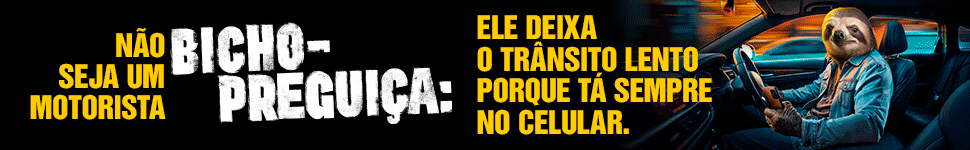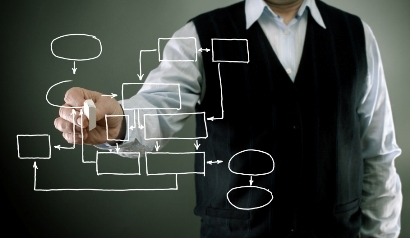As “reminiscências” do Raimundo XXII
Redação DM
Publicado em 16 de março de 2018 às 23:01 | Atualizado há 7 anos‘Mão dormente’ – Um escândalo – Certa feita, estava eu dormindo na minha rede, num quarto junto a minhas irmãs. Minha rede ficava ao lado da parede, bem próxima desta. Então, minha mão deve ter ficado em determinada posição inadequada, que adormeceu. Lá pelas tantas da madrugada, eu acordei, numa escuridão danada, com um peso em cima do meu peito. Então, peguei com a outra mão aquela coisa que estava em cima de mim, e a joguei fora. A mão estava dormente, nada senti.
E quando aquela mão foi jogada para fora, batia na parede e voltava, novamente, pra cima de mim. E aquela coisa caindo em cima do meu peito, sucessivamente, eu acreditei que fosse uma assombração; e como os meninos daquela época tinham medo dessas coisas!… Assombrações, como se dizia por lá. Assim, acordei e gritando, assombrado. E acordei todo mundo da casa… Quando acenderam as lamparinas, e nada encontraram, e até parecia que a assombração havia desaparecido, como mistério. É que pude verificar o que tinha acontecido de fato. Nada mais era do que a minha mão dormente que era jogada, a todo instante, contra a parede, e que, nela batendo, voltava a cair sobre o meu peito. Depois de minha gargalhada, e até mesmo zombaria dos colegas – todos fomos dormir, novamente, profundamente sossegados.
‘Dormindo na Área da Casa’ – Papai tinha o hábito de fechar a porta da rua, às 22h. E eu sempre já estava em casa, nesse horário. Acontece que, um belo dia, atrasei a minha chegada em casa. Eu estava num baile, como sempre, em ambientes não tão recomendáveis. E como gostava de dançar!Já tinha aprendido o suficiente para não passar vergonha com as moças. Nem ser enjeitado nos pedidos de dança, nas ‘soirées’ dançantes, nas casas de família.
Assim, cheguei em casa já fora desse horário pré-estabelecido. Papai não perdeu tempo. Trancou a porta da rua, e fechou a porta da cozinha, por dentro. Dessa forma, não pude entrar em casa, para dormir.
Havia um banco numa área, ao lado da entrada. Eu, com todo o sono que estava, deitei-me nesse banco, que, àquela altura, até que seria uma boa cama… Assim, deitei-me nesse banco, e logo dormi. ‘Madrinha’, acordando lá pelas tantas da madrugada, levantou-se e percebeu que eu não estava dormindo. Ela disse que, abrindo a porta da cozinha que dava para aquela área, percebeu que, ali, eu estava dormindo. Então, ela foi, com muito jeito, tentar me acordar. E eu acordei.
Acordei tão assustado e com tanto medo de assombração, coisa do outro mundo, que pulei longe, gritando: ‘Me deixa em paz, alma do diabo!’ Falei isso várias vezes, e, ao mesmo tempo, eu dava chutes para todos os lados, para me ver livre daquilo.
Nesse destempero todo, e ainda sonâmbulo, sem notar a presença de ‘Madrinha’, chutava ela, também, que, parece, estava vestida de branco, e era, para mim, uma perfeita assombração, coisa do outro mundo. Até que ela gritou, dizendo que era ela; aí é que eu tomei consciência da realidade. Vi que a assombração não era nada mais nada menos que ‘Madrinha’, minha ‘madrasta’. Fiquei, então, muito desconcertado, e fui levado para dentro de casa para dormir, novamente. Apesar de tudo, eu estava, ainda, muito assustado. Mas terminei dormindo, novamente.
Gente nova tem sono fácil. Não tem, ainda, felizmente, outras preocupações, a não ser com coisas do outro mundo, e que, por não existirem, não podem fazer mal a ninguém.
‘Madrinha’ ficou alguns dias sentindo muitas dores de minhas pesadas involuntárias e inocentes. Ela bem sabia disso. E disse, depois, que aquelas minhas pesadas nela foram causa de um aborto, pois ela estaria grávida de pouco. Fiquei sabendo disso somente bem depois. Foi lastimável!
‘Canoa furtada’ – Como anteriormente já havia comentado, Papai havia comprado uma pequena canoa para mim. O principal motivo dessa aquisição era me ajudar na busca de lenha grande, na orla ribeirinha. Com ela, o serviço rendia muito mais. Eu cortava a lenha em tamanho grande, e nela seria possível transportar aqueles grandes pedaços de madeira (os ‘varões’). Eu os levava para casa, e lá, à medida das necessidades, eu os ia cortando em tamanho menor, para abastecer o fogão. De forma que foi uma coisa muito boa que Papai fez para mim. Em bem menos tempo, eu trazia para casa grande quantidade de madeira, tamanho grande, que rendia, depois, muitos metros de lenha. E muitos dias de serviço eram poupados. Eu, com ela, também fazia as pescarias. Mas como eu não era muito dado a esse serviço, eu a usei muito pouco para tal. Eu a usava, também, para fazer pescarias. Mas como eu não era muito dado a esse serviço, eu a usei muito pouco para tal. Eu a usava, também, e bem mais, nas horas de folga, para passear, ora rio acima, ora rio abaixo. Era muito boa, aquela vidinha que eu levava, sem maiores preocupações. Assim, fiquei com ela uns dois anos, aproximadamente. E ela me foi de grande utilidade. Era leve, e de fácil manejo.
Certo dia, um conhecido da gente, ‘seu’ Emiliano, ‘o coxo’, que também vivia de pequenos serviços, até porque era limitado para o trabalho, por seu estado físico – pequeno, magro e, ainda por cima de tudo, coxo, me pediu emprestada a minha canoinha. Disse-me que era por poucos dias. Ele ia fazer algo em determinado lugar, não me lembro mais o que, nem onde. Mas a verdade é que não questionei o seu pedido. Até aí, ele era, para mim, uma pessoa séria, correta. Acima de tudo isso, muito mais velho que eu. Ele era um senhor já de certa idade. Tinha até família. Eu não tinha nenhum motivo para desconfiar de suas intenções. Para ser mais conciso, porque o assunto não merece maior perda de tempo, o ‘seu’ Emiliano não mais voltou de sua viagem. Que seria breve, segundo ele.
Com o tempo, não pude esconder mais de Papai, aquele meu ato. Eu lhe contei que havia emprestado a canoa para aquele senhor. E que já se passaram alguns dias, e ele ainda não havia voltado. Eu até achava que ele não voltaria mais. E a minha preocupação tinha sentido; ele, realmente, nunca mais voltou.
Papai ficou muito nervoso comigo, e me prometeu uma pisa por aquele meu ato desastrado. Para a época, era um prejuízo considerável. E, além do prejuízo material, o pior era eu ter ficado privado daquele importante instrumento de trabalho. E dali em diante, continuei a trazer lenha somente do carrasco, nas proximidades. E assim, ainda trabalhei uns bons meses, até sair de Conceição do Araguaia para a companhia de meu irmão Licínio, no início do ano de 1959. Nesse tempo, eu estava com 16 para 17 anos. E a promessa de castigo não saía da minha cabeça e, eu tenho certeza, tampouco da de Papai. Aquilo era um suplício. Eu me considerava uma pessoa produtiva, mas Papai não tinha a mínima condescendência. Era sempre nervoso conosco. Para ele, eu era um rapazinho difícil e muito irresponsável. Só por causa das brigas infantis e das de adolescente, bem como esse prejuízo que lhe dei. O único, por sinal. E porque queria servir ao próximo, que conhecia, e em quem confiava. Esse episódio não deixou de ter sido uma lição, na minha vida. É assim que a gente vai aprendendo a viver. Errando e acertando. Só que os acertos devem ser bem maiores. E que nos erros sempre encontremos lições para não cairmos em outras situações comprometedoras.
‘O Assassinato – Versão I’ – Um acontecimento que muito me marcou foi presenciar o assassinato do Tenente Silas. Já bem de tarde, começou uma briga na esquina próxima à nossa casa. Um soldado tinha ido lá ao bar prender um elemento brigão. Só que o elemento a ser preso, João Corrêa, era muito bom de briga. O soldado estava para levar a pior. Para auxiliá-lo, chega o seu superior, o Ten.Silas, de cara bexinguenta. Ele era um homem alto e corpulento. Mas mau elemento, apesar das boas qualificações de seus adversários, levou a melhor. Com uma faca, acertou, mortalmente, o Ten.Silas. Este teve morte instantânea. Foi um clamor geral, na cidade. Ele era muito benquisto, uma autoridade exemplar. Naqueles idos, em que a presença do juiz de Direito não era permanente, na cidade, a maioria ainda tinha residência fixa em Belém, a Polícia era, também, o Judiciário da cidade, o Delegado era tudo na manutenção da ordem. E, dessa forma, a morte do Ten. Silas causou muito pesar, na comunidade.
O certo, porém, é que, depois, veio o julgamento do réu, que foi preso em flagrante, e preso ficou até o julgamento. Como foi condenado, continuou preso, e parte do cumprimento da pena foi em Belém. Fiquei muito tempo com aquela cena horrível na mente. Foi terrível!
‘O Assassinato – Versão II’ – Coisas que nos acontecem, ou que presenciamos na fase mais jovem da nossa existência, com o passar do tempo, às vezes, as nossas lembranças ficam um tanto opacas, obscuras, difíceis de serem visualizadas com maior clareza e nitidez, havendo, por isso mesmo, a possibilidade de serem distorcidas da verdade.
É o que me aconteceu com o caso relatado, anteriormente. Na minha lembrança, o João Corrêa havia ferido, mortalmente, o Ten. Silas. Mas, consultando seus contemporâneos, também do ocorrido, e que por lá permaneceram por mais tempo, ou mesmo que continuaram morando naquela cidade, que teriam melhores condições de relatar o fato com mais fidedignidade, ou seja, a versão mais real dos fatos. Segundo essas pessoas, meu cunhado Santana e seus irmãos Alfredo e Godofredo, o caso aconteceu da seguinte maneira:
‘O João Corrêa tinha aprontado ‘umas’ no bar do seu Bazar. O Ten. Silas, como autoridade-mór naquela cidade, foi solicitado dar um jeito naquele arruaceiro, que, quando não estava bêbado, diga-se, de passagem, era uma boa pessoa, mas tinha bebido muito, e estava fora de si. O Ten. Silas, então, ordenou, de imediato, que um de seus subordinados, o soldado Antônio, tomasse as providências no sentido de prender o ‘farrista’. O soldado Antônio, que, segundo dizem, estava fazendo a barba, largou tudo, com um subordinado cônscio de suas responsabilidades e deveres, não pensou duas vezes, e partiu para o cumprimento das ordens que lhes foram dadas.
Nisto, o João Corrêa já subia a rua, tranquilamente, e sem ter deixado para trás nenhuma conseqüência danosa – talvez não passara de uns copos quebrados, tacos de sinuca destruídos, garrafas em pedaços – coisas de ébrio inconseqüente. Não deixava de ser um desrespeito aos proprietários, causando-lhes alguns pequenos prejuízos. Quando o soldado Antônio alcançou o arruaceiro – pois morava ali mesmo, próximo numa esquina perto de nossa casa, aquele o atracou pelas costas, de surpresa, sem que este o tivesse visto, antes. Estava já se dirigindo para sua casa. Andava com tranqüilidade e sem remorso, ao que parece, pois bêbado não tem consciência absoluta dos seus atos, naquele estado. Subia, tranquilamente, mas apenas cambaleando, o autômato. Não tinha arma nenhuma. A sua arma era somente sua força. E como a tinha!…
O soldado Antônio alcançou-o e, de surpresa, atracou-se pelas costas, com as duas mãos no pescoço, e tentou sufocá-lo, para dominá-lo. Nisto, o João Corrêa, embora bêbado, levou as mãos à cintura do soldado, desarmou o Antônio e, sem pestanejar, atirou nele sem saber em quem, na verdade, estava atirando. Ele, àquela altura, estava apenas autodefendendo-se de seu agressor, fosse ele quem fosse, – podia até ser seu irmão. Não sabia de quem se tratava. O agressor estava às suas costas.
Com aquela confusão toda, o Ten. Silas se aproximou para tentar prestar auxílio, ou mesmo já o socorro ao seu subordinado. Mas já era tarde. O tiro tinha sido fatal. Além disso, o Tenente ainda foi atingido com um ou dois tiros, pois o João Corrêa não descarregara a arma em seu primeiro agressor. Apenas atirara para se defender. E o tiro tinha sido certeiro.
Então, na verdade, o morto fora o soldado Antônio soldado, que, no cumprimento de seu dever, dera sua vida. Quanto a seu superior, teve o dissabor de perder um de seus fieis subordinados e, com certeza, não lhe foi fácil conviver com aquelas lembranças, mas, na sua função, tinha que conviver com fatos desagradáveis como este. Estava, até certo ponto, preparado para isto. O seu ferimento na virilha não lhe causou maiores conseqüências, a não ser uma intervenção cirúrgica de pequeno porte, e curativos periódicos. Dentro de poucos meses, estaria curado.
Quanto ao agressor e assassino, foi preso, julgado e condenado. Pegou muitos anos de cadeia em regime fechado. Cumpriu parte da pena em Belém, e a outra parte lá mesmo, em Conceição do Araguaia. Foi um desastre em sua vida, também. Pagou caro por aquele seu ato inconsequente. Prejuízo maior e imensurável quem teve foram os familiares de ‘seu’ Antônio soldado.
Embora concordando com esta versão, manterei a minha. Faço isto para demonstrar qual a lembrança que eu guardei do ocorrido, que muito me marcou naquela quadra de minha vida, em que me preparava para o futuro, e via gente perder sua vida com tão grande brutalidade e por motivos fúteis.
Comecei a trabalhar na Prefeitura no início de abril de 1958. Eu fora nomeado Protocolista, mas, na verdade, eu fazia de quase tudo, naquela repartição. Quando eu digo ‘quase tudo’, quero dizer ‘coisas mais simples’ que um jovem de apenas 15 anos/16 anos de idade podia fazer. Eu era encarregado de abrir a Prefeitura. Tinha que ir bem cedinho, porque eu tinha, também, como atribuição extra, a limpeza interna das repartições. Quando eu digo repartições, estou incluindo o espaço ali destinado para o funcionamento da Câmara Municipal, também.
Quando os demais servidores chegavam, eu já havia varrido todos os cômodos abertos, de uso cotidiano, da Prefeitura, bem como o Salão da Câmara Municipal. E eu fazia todos esses serviços extras, o mais contente possível. Já pensou, eu, um Protocolista Nomeado?! Para mim, não tinha coisa mais importante naquela minha idade. Eu, que vivia trabalhando, até ali, em serviços grosseiros, – roça, buscar e rachar lenha, buscar água para fornecer às casas, transporte de bagagens! Eu ali, no meio dos funcionários públicos, na sombra, em contato diário com os funcionários municipais! É bem verdade que, com todo aquele nobre ofício, nem por isso fiquei arrogante. Eu, na verdade, continuava o mesmo. Os meus princípios, parece, eram nobres e, portanto, superiores. Não superior de orgulho bobo, tolo, mas superior de um orgulho nobre.
(Licínio Barbosa, advogado criminalista, professor emérito da UFG, professor titular da PUC-Goiás, membro titular do IAB-Instituto dos Advogados Brasileiros-Rio/RJ e do IHGG-Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, membro efetivo da Academia Goiana de Letras, Cadeira 35 – E-mail liciniobarbo[email protected])