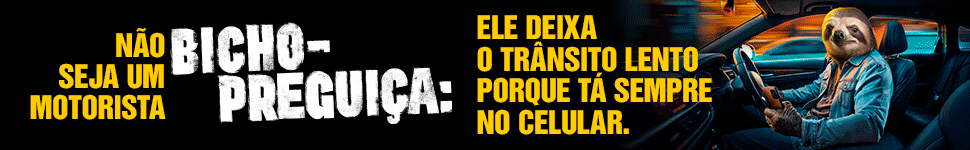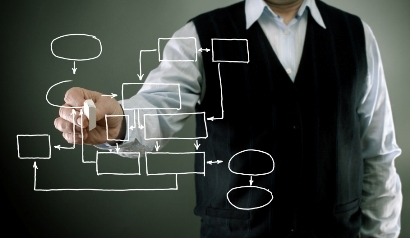As “reminiscências” do Raimundo XX
Redação DM
Publicado em 2 de março de 2018 às 21:38 | Atualizado há 7 anos‘Queda de braço’ – Quando eu morava ainda em Conceição do Araguaia, os rapazes e, não muito raro, os homens adultos também, talvez por falta de outra opção de lazer, praticavam um esporte que a gente, à época, achava até muito interessante, e que despertava muito interesse, nos torcedores. Chamava-se ‘queda de braço’. E essa competição se dava, geralmente, nos finais de semana, ou mesmo nos dias úteis, mas à tardezinha, ou à noite. Essa competição era em dupla. E cada vez que um elemento era eliminado, outro entrava em seu lugar para concorrer com o vencedor. Ou então, a competição se dava apenas com aqueles dois competidores, e a competição terminava com a vitória de um dos dois. Ocorreria, mas muito raramente, o empate. Nenhum dos dois conseguia derrubar o braço do outro. E a competição se dava da seguinte forma: Sentavam-se os dois competidores em cadeiras, postadas na cabeceira de uma mesa. Os competidores colocavam seus cotovelos sobre a mesa em lugar determinado e do qual não se poderia arredar. E com as mãos dadas, em sentido vertical, cada um procurava derruba (deitar) o braço do adversário até a mesa. O braço não era utilizado na competição (ou seja, livre), não podia nem tocar ou auxiliar o outro.
Era emocionante ver aquela competição. Os competidores, de uma dupla equilibrada, demoravam na competição. Às vezes, um levava o braço do outro até à mesa, mas logo o competidor adversário conseguia reverter e, devagarinho, e com muita força, ia levantando o braço do adversário até a vertical, ou mesmo dobrava-o em sentido contrário, ou seja, levava o braço dele até a mesa. E, não raras vezes, terminava vencendo a competição, até porque o adversário já estava exausto. Inicialmente, ele era mais forte, demonstrava mais robustez, e o adversário, naturalmente, demonstrava menos força, mas, com o tempo, ele ia vencendo a resistência daquele que era mais afoito no começo, mas não era duradoura. E o outro, mais tímido, inicialmente, até estrategicamente, devagarinho conseguia levar à exaustão seu competidor, e terminava vencendo a competição, contrariando, muitas vezes, os prognósticos iniciais. Havia até apostas em dinheiro, entre os espectadores, mas esta prática não era usual. Esse esporte era uma competição espontânea e de mero divertimento. Simples passatempo.
‘O Cinema, em Conceição do Araguaia’. Naquela cidade, não existia cinema. Daí, as festas que se faziam com a chegada de cada circo. Porém, por lá passavam os pastores protestantes que atuavam naquela região. Estes eram americanos. E sempre traziam novidades. Eles exibiam, a céu aberto, filmes mudos, que mostravam o fim do mundo, o pós-dilúvio. E, como tal, no começo desses filmes, vinha o dilúvio. Cena que muito me marcou pela abundância de água, e Noé, com seus inúmeros bichos, – mamíferos, aves, répteis, etc. Quando digo ‘começo do mundo’, é força de expressão, visto que o início do mundo não se deu com o dilúvio, mas sim com Adão e Eva. Ali se deu um recomeço do mundo. Achei muito bonitas aquelas imagens, apesar de mudas. Quando digo imagens, quero dizer cenas.
Outro tipo de filme a que assisti, a céu aberto, também mudo, foi o referente a ‘Jeca-Tatu’. Tratava-se de uma propaganda do ‘Biotônico Fontoura’, que se aproveitava dessa figura caricata criada por Monteiro Lobato. Aquele medicamento seria o responsável pelo restabelecimento físico daquele debilitado personagem. Era a indicação direta de que o ‘Biotônico Fontoura’ era um grande revigorante dos desvalidos, ou melhor, dos desnutridos. Tratava-se de um filme comercial, mas para nós daquelas bandas, carentes de tantos outros conhecimentos, era um grande acontecimento.
‘As Revistas em Quadrinhos’ – Os Gibis – Já naqueles idos, década de 1950, os estudantes não tinham uma leitura alternativa aos livros das escolas. Vez por outra, aparecia um jornal da Capital. Revistas de cunho cultural, nem pensar. A gente não ficava isolado do mundo porque tinha o rádio que nos levava notícias tempestivas. Mas era uma raridade a existência desse meio de comunicação nos lares. Só uma minoria, e bem reduzida mesmo, tinha esse privilégio. Nós mesmos não fomos dos primeiros a possuí-lo. E o melhor e quase único noticiário, resumo do noticiário do País e por que não dizer do mundo, era o ‘Reporter Esso’, da Rádio Nacional.
Um colega meu, cujo nome no momento não me vem à memória, ou se era o Zé Botelho, que era filho ou neto do ‘seu’ Fausto Pinto Botelho, era dado à leitura de uma pequena revistinha de desenhos: Os chamados ‘gibis’. Não sei também por qual meio é que ele adquiria referidos livrinhos. Porque era raro, naquela cidade, aqueles pequenos fascículos. Na cidade, só me lembro dele de useiro e vezeiro naquele tipo de leitura. Não era uma leitura recomendada para jovens de nossa idade. Em sua maioria, tratava-se de ‘filmes’ violentos. Eram os famosos filmes do ‘FarWest’ americanos, ou os famigerados ‘bang-bangs’.
Essas revistinhas não traziam estórias educativas. Na maioria das vezes, eram estórias de violência naquelas terras sem lei, nas pequenas vilas e zonas rurais, com os índios ‘Apaches’ e ‘Peles Vermelhas’ e outros nativos daqueles idos. Era a época do mais forte nas armas de fogo. E os índios sempre, por sua inferioridade bélica, a levar suas inúmeras desvantagens. E nas pequenas vilas, era a vez dos bandoleiros, mal-encarados, beberrões, armados com, no mínimo, duas armas dependuradas à cintura, a querer impor suas leis de violência. Mas, via de regra, enfrentavam os defensores da Justiça, os famosos ‘xerifes’, verdadeiras autoridades maiores da localidade, – o Delegado, que, com destreza, não raro, ou mesmo quase sempre, levava vantagem, e impunha a sua justiça, quer eliminando o malfeitor, ou mesmo expulsando-o do convívio da comunidade. O ‘Xerife’ era os três poderes da comunidade, ou da localidade. O cinema procurava retratar os dias difíceis da colonização americana.
Quando me mudei para Anápolis, no Estado de Goiás, onde existiam cinemas, é que fui assistir a esses estilos de filme, com estórias diferenciadas. E, naqueles tempos, eram esses os meus filmes preferidos até então. E tinha tudo a ver com aquelas revistinhas que eu lera, – não muitas, pois eram emprestadas, lá em Conceição do Araguaia/PA. Não deixava de ser uma iniciação.
E não poderia deixar de falar também do ‘seu’ Fausto Pinto Botelho, tio ou avô de meu amigo. Tratava-se de uma pessoa já um tanto idosa, muito educado. Morava na Rua Nossa Senhora da Conceição (parece-me que se chamava assim, à época) e que passava em frente à Matriz do mesmo nome.
Como muitos da cidade, também possuía um pequeno comércio. Parece até que aquela cidade era a terra dos comerciantes, embora pequenos. Ali, quem não era comerciante, era possuidor de barco de transporte de passageiros e de mercadorias, e muitos deles pescadores. Também não era para menos, pois a cidade tinha a seus pés um majestoso rio, e, naquela época, muito piscoso, pois não existiam pescadores de outras localidades, já que a região era desprovida de estradas de rodagem, e o Araguaia não era de fácil navegação. Era considerado um rio de planalto, raso e cheio de pequenas cachoeiras e travessões que impediam a navegação de barcos maiores no verão, época da seca. E mesmo na época das chuvas, as embarcações maiores eram a minoria, e tinham que ser pilotadas por pessoas de muita prática, pois, àquela época, não eram dotadas de aparelhos que mostrassem ou indicasem os obstáculos submersos, as armadilhas daquela perigosa navegação fluvial.
O ‘seu’ Fausto era uma pessoa de boa índole, e morava não muito longe do ‘seu’ Salvador Gurjão, na mesma rua, e no mesmo alinhamento.
Superstições e
crendices populares
‘O Boto’ – Esse animal inofensivo, e que sempre procurava a presença humana, é tido como ‘salvador dos afogados’. Dizia-se que, quando ele ‘percebia’ que alguém estava se afogando, ele vinha em socorro dessa pessoa, jogando o náufrago para a flor d’água, e ia rolando, empurrando aquele corpo humano para a margem do rio. Todavia, jamais conheci alguém que tenha sido salvo por aquele animal. Aquilo não passava de imaginação fértil dos ribeirinhos, e para dar um magistral valor àquele dócil animal.
‘O Boiuna’ – Muito falavam dessa cobra de tamanho descomunal. Era uma espécie de ‘Sucuri’, só que muitas vezes maior. Era um ente misterioso. Vivia escondido nas profundezas das águas. Mas era inofensivo. Apenas o seu tamanho metia medo na imaginação dos ribeirinhos, – a maioria pescadores. Mas como coisa misteriosa, ninguém provava sua existência. Nunca se teve notícia comprovada dela. Os ribeirinhos tinham muito medo desse animal tenebroso. Ela vinha às flor d’água, mas, rapidamente, mergulhava, só deixando como rastro o borbulhar e o remanso que se formava , passageiramente, das águas. Caso se sentisse ameaçada, mergulhava por baixo das embarcações, e as fazia, com relativa facilidade, naufragar. Ninguém duvidava disso! Por isto, ninguém se aproximava daquele monstro, que reinava, soberano, naquelas águas soberbas.
‘A Jiboia’ – Outro folclore muito comentado é o da cobra ‘jiboia’. Era comentário geral, naqueles idos ainda rurais, que aquela cobra tinha o mágico poder de hipnotizar a mãe que tinha dado à luz e ainda estava amamentando. Ela entrava nos aposentos, subia na rede ou na cama, e colocava a ponta de sua cauda na boca do bebê recém-nascido, que se contentava em sugá-la, acreditando ser o seio de sua mãe adormecida, enquanto a serpente mamava naquele seio farto de leite. Por ser uma cobra sem veneno e dócil, nada fazia de mal àquelas pequenas criaturas. Mas apenas e tão-somente, o seu grande mal, era enganar a criancinha, furtando-lhe o alimento essencial a sua sobrevivência, o leite materno. A verdade é que ninguém, tampouco, nunca comprovou essa estrepolia daquela suposta cobra engenhosa, mas a imaginação popular acreditava nesses feitos hipnotizantes, e por que não dizer, diabólicos, desse animal que, para matar a sua fome, deixava uma inocente criaturinha passar fome! Mas tudo isso não passava de estória mirabolante, não se sabe com que objetivo foi propagada essa estória fictícia. As mães de então temiam ser surpreendidas com aquela peripécia, apesar de ninguém ter comprovado a realização daquele ato, que, na verdade, era mera fantasia.
As fogueiras
de São João
O mês de junho era muito festejado, principalmente nas pequenas cidades do interior deste nosso enorme Brasil. Nesse mês, são homenageados os Santos: Santo Antônio (dia 13), São João (Dia 24) e São Pedro (Dia 29). Tomei conhecimento desses festejos, de minhas lembranças, já lá em Conceição do Araguaia, durante o período em que por lá vivi, – de abril de 1953 a fevereiro de 1959. Eram festas religiosas, mas elas pendiam mesmo era para o folclore.
Era mês de muita alegria. Aconteciam as quadrilhas, – danças e músicas típicas daquele mês. Eram danças tipo de roda, – muito longas. Havia o ‘casamento de roça’, os ‘batisados na fogueira’. Tinha os casos quase inacreditáveis de gente andar descalça sobre brasas ardentes e sem queimar os pés. Havia o caso daquelas pessoas que, com um copo d’água, ‘viam com quem alguém, principalmente as moças, iriam se casar; ou mesmo de onde viria o seu futuro ‘pretendente’, e, em alguns casos, davam-se até as pistas do tipo físico do ‘príncipe encantado’, – cor da pele, dos olhos e de seu tipo físico. Na verdade, tudo era mera imaginação e motivo de muita alegria e gracejo. Mas tinha gente que até levava muito a sério essas ‘previsões’; e até dentro de quantos meses iria se casar!…Veja-se bem até que ponto chegavam aquelas brincadeiras, que até mexiam com os mais crédulos, e mesmo esperançosos de, através daquelas brincadeiras, realizar seus sonhos.
E ali no ‘Sul’, – considerando o ‘Norte’ a cidade de Conceição do Araguaia, onde eu morava, Estado do Pará, que, na verdade, é Centro-Oeste, e, mais precisamente, em Anicuns, os costumes, as comemorações dessas festas juninas eram as mesmas das de lá. Menos a ‘quadrilha’, mais dançada nas bandas de cá, – o Centro-Oeste. Pelo menos, não me lembro delas por lá. E por ser esse mês muito frio, e, naqueles idos, principalmente, usava-se tomar naquelas noites alegres, festivas, uma bebida, com baixo teor alcoólico, o famoso ‘quentão’, – uma mistura de cachaça, com vários outros ingredientes tais como gengibre, cravo, canela, etc. As fogueiras de São João faziam parte daquelas festas e daquelas noites frias.
As fogueiras variavam de tamanho, havia as bem pequenas, mas também as enormes de uso comunitário. Aglomeravam-se muitas pessoas em volta destas. Muita conversa, brincadeiras, animação, etc.
A madeira com que eram feitas era de boa qualidade, até para ser durável e produzir fulgurantes, enormes brasas. Brasas essas que ficavam, depois, cobertas de cinzas, até o amanhecer. E só depois de muito tempo eram transformadas em borralho.
Aquelas lenhas eram escolhidas entre as madeiras que dessem o melhor braseiro, que se prestaria para outras utilidades a que anteriormente me referi, tais como assar coisas de comer, etc. A madeira era o angico, o jatobá, e outras madeiras de qualidade. O tamanho dessa madeira variava: Umas mais largas e mais altas, outras menores, mais estreitas e menos altas. Dependia do gosto do dono da festa, do dono da casa. E, na cidade, várias famílias faziam suas fogueiras. Elas tinham quatro lados, mas de forma piramidal. Ocas no centro, tinham a forma de arapuca: Na base, colocavam-se alguns gravetos no interior, para facilitar o começo do fogo. E essa lenha era cortada do tamanho da fogueira que se pretendia fazer: Paus maiores e mais grossos, se fogueiras maiores; e menores e mais finos, se pretendesse fogueiras menores. E assim por diante. Era o mês das noites ‘em chamas’, incandescentes, alegres e de muitas cantorias e brincadeiras. Sem contar os inúmeros bailes com roupas típicas, de ambos os sexos, – homens e mulheres. Cores vivas e até mesmo espalhafatosas, dependendo do gosto de cada um, mas sempre dentro do tema, festas juninas. E esses bailes vinham sempre depois da dança da quadrilha, que era dirigida por pessoa que conhecesse todos os passos daquela dança diferente, faceira, alegre e, acima de tudo, pura.
Quando a brasa já estava quase acabada, e restavam apenas as suas sobras, – as cinzas e mito quentes ainda, assavam-se no borralho, nas cinzas, batatas doces, as quais eram apreciadas por todos. E foi numa dessas noites juninas que nossa madrasta, já tendo conquistado a nossa simpatia e confiança, foi por mim e por mais duas irmãs, – Lourdes e Vivi, escolhida para ser nossa ‘Madrinha’ de fogueira. E esse compromisso, todos o levavam a sério, – ‘Padrinhos’ e ‘Afilhados’, ‘Madrinhas’ e ‘Afilhadas’. E dali para diante sempre a chamávamos de ‘Madrinha’, e pediamos sua bênção. E ela, sempre compenetrada, nos abençoava. E sempre foi assim. E o ritual da cerimônia se dava em volta da fogueira. Ali, faziam-se os juramentos, e, no encerramento, rezava-se para selar aquele compromisso.
(Licínio Barbosa, advogado criminalista, professor emérito da UFG, professor titular da PUC-Goiás, membro titular do IAB-Instituto dos Advogados Brasileiros-Rio/RJ, e do IHGG-Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, membro efetivo da Academia Goiana de Letras, Cadeira 35 – E-mail liciniobarbo[email protected])