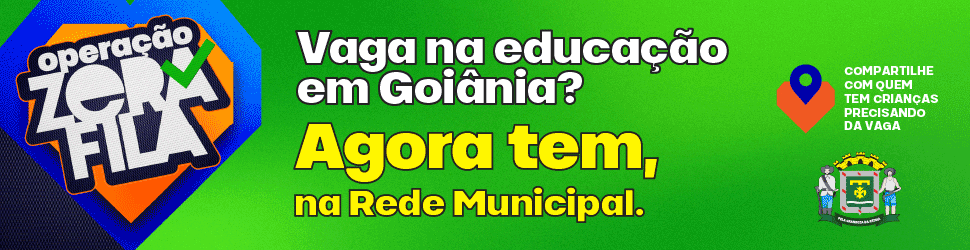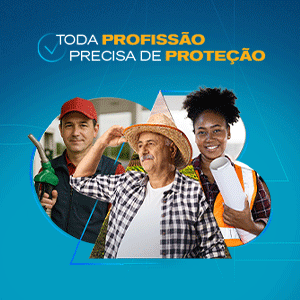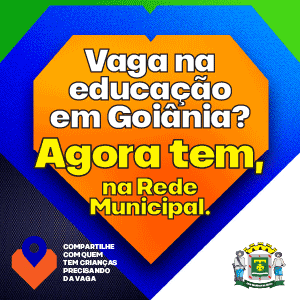A disputa pela educação
Redação DM
Publicado em 23 de novembro de 2017 às 00:16 | Atualizado há 8 anos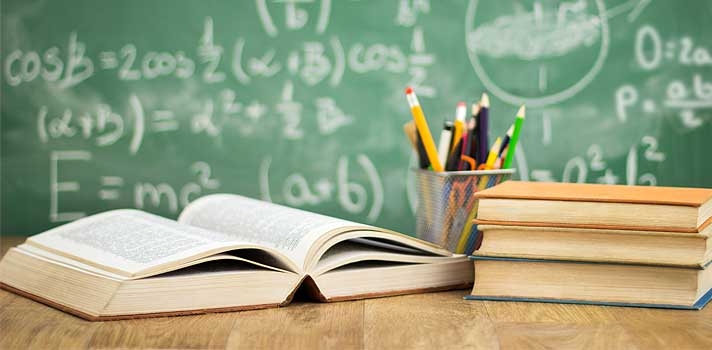
“O fascismo foi filosoficamente raquítico, mas do ponto de vista emocional foi montado com firmeza em alguns arquétipos.”
Umberto Eco, Ur-fascismo, o fascismo eterno
Em 1966 o professor Jorge Nagle escreveu Educação e Sociedade na Primeira República. Com vasta pesquisa documental, o livro demonstrou que nas décadas de 1910 e 1920 muitos movimentos populares, nacionalistas e cívicos participavam de um processo definido por ele como de “entusiasmo pela educação”.
Multiplicavam-se os discursos que tomavam a disseminação da educação escolar como principal estratégia para “reconstruir a nação”.
O autor considerou que, no final da década de 1920, esse entusiasmo pela educação foi se tornando um “otimismo pedagógico” à medida que, no seu entender, entraram em cena novos atores que reivindicaram a educação como “técnica”, como obra resultante do domínio de novas ciências e disciplinas e que, por isso, ao mesmo tempo em que a pauta em certo sentido se sofisticava também perdia, no seu modo de ver, a força política.
A evocação desse clássico tem o sentido de lembrar que debates a respeito do “lugar da educação” na construção do país faz parte da história da república brasileira.
É interessante observar que o Brasil é permanentemente representado como país em construção e as metáforas da construção são, por sua vez, constantemente confrontadas com representações de ruína moral; ruína essa a que tudo será reduzido se “valores essenciais” forem esquecidos.
A educação que parece ter poderes para tudo é tratada há um século como se estivesse sempre em vias de desmanche, com uma fragilidade inversamente proporcional à força atribuída aos que supostamente querem “macular nossa essência”.
Essência é uma palavra chave do fascismo.
É com representações da essência que um moralismo rancoroso e ressentido encontra e produz palavras para afrontar pessoas que são consideradas desestabilizadoras “da essência”.
O fascismo, tal como o analisava Norberto Bobbio, consegue ter um paradoxo próprio. Ou seja, tem um vigor multitudinário à medida que convoca milhares às ruas para que escutem e sigam “seus líderes” (todos sempre patriotas e denunciadores dos riscos que “aquele outro” representa à moral, aos bons costumes, à “essência” da pátria) e, ao mesmo tempo, trabalha disputando migalhas, com atenção às vírgulas de textos cuja mínima alteração pode representar grandes triunfos para seus propósitos.
Possivelmente muitas de suas expressivas vitórias se consolidaram mais nas vírgulas que nas praças.
O Brasil combinou sua herança escravocrata com um modo de tornar-se potência econômica que muito se beneficiou das nossas assimetrias sociais.
Essas assimetrias favoreceram a disseminação de ideias que tomam direitos como se fossem favores e conquistas populares como se fossem afrontas. É o que Darcy Ribeiro chamou de “pelourinho profundo”. O “pelourinho profundo” dá um tom singular aos enfrentamentos sociais no Brasil.
O fascismo tem um dispositivo fundamental para seu fortalecimento que é a disseminação de milícias vigilantes que assumem o protagonismo quando identificam inimigos que devem ser abatidos, que devem não exatamente “perder o debate”, mas sim deixar de existir.
Combina-se, assim, aquilo que produz o vigor fascista: ação tal como pedem seus líderes, mas com uma prontidão para agredir que não depende do comando disparado.
Quem faz a militância fascista?
Todo aquele que percebe que pode indicar um inimigo a ser abatido “em nome da preservação da essência”.
O que é o movimento “escola sem partido”?
É o fascismo militando diretamente no microcosmos, interferindo no conteúdo de ementas e projetos pedagógicos. É o fascismo exigindo que o legislador vigie o professor nos mínimos detalhes, destilando uma violência interessada em apontar inimigos da essência da pátria e, para isso, agindo de modo ruidoso.
Trata-se de uma gritaria que identifica ícones, como cores (vermelha, por exemplo), como fatos (estudo de revoluções), como temas (questões de gênero) e que exige a revogação de palavras, de gestos, de propostas, tudo que possa insinuar a presença de senso crítico e respeito à liberdade.
É por isso que se afirma que o fascismo disputa migalhas porque projetos como o escola sem partido somente se manifestam sobre fragmentos, uma vez que qualquer articulação de ideias mais ampla escapa de sua estreitíssima margem de argumentação. O apreço aos mínimos detalhes é, na verdade, uma tática de defesa do seu modo de discursar, que é sempre agressivo e aberto a intimidações. Na falta de argumentos, gritam.
O silenciamento de professores, o controle sobre conteúdos escolares, a proibição da menção às palavras consideradas ameaçadoras à essência, a redução dos debates a níveis subterrâneos (onde fluem esgotos) são expressões de um projeto que disputará escola a escola, regimento a regimento, cidade a cidade.
Estão em tramitação 78 projetos de lei para a implantação do “escola sem partido”. Isso abrange, até o presente momento, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, Pará, Amazonas.
São Paulo é o estado que tem conseguido tramitações mais rápidas, e isso tem como exemplo as cidades de Ribeirão Preto, Campinas, São José dos Campos e Jundiaí.
São José do Rio Preto acaba de aprovar sua “adesão”.
É um efeito “bola de neve”. E em nome “da essência” tudo pode acontecer.
Fomos profundamente envergonhados com as agressões sofridas pela Professora Judith Butler em sua breve visita a São Paulo para proferir palestras sobre os fins da democracia.
Estamos observando as vísceras expostas de um país que dia após dia renova aquilo que a educação sempre foi: objeto de disputa. Se ela é essencial para a disseminação do fascismo, será fundamental para a sobrevivência de nossas liberdades, todas elas.
(Gilberto Alvarez Giusepone Jr., diretor do Cursinho da Poli e presidente da Fundação PoliSaber)