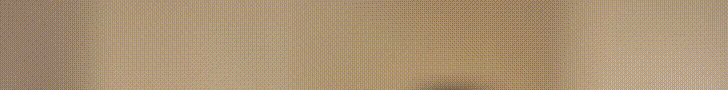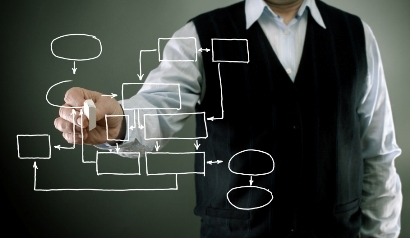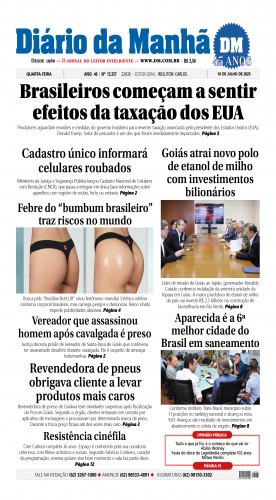Oposição ao paradigma mecanicista
Redação DM
Publicado em 29 de junho de 2017 às 02:52 | Atualizado há 8 anos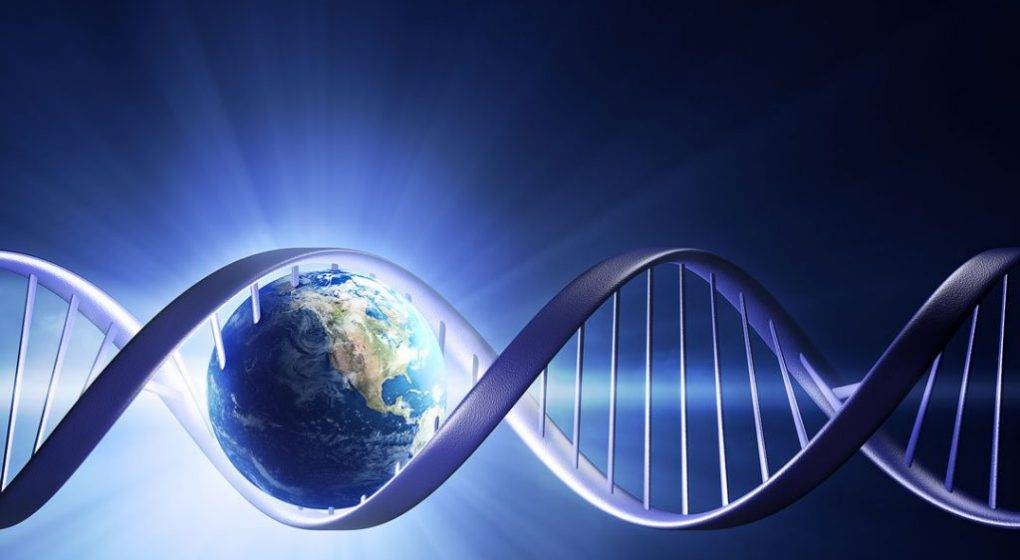
Levando-se em linha de conta a realidade unitária do Universo, ostentando-se, embora, em inevitável dualidade, na Natureza, quanto aos seres orgânicos e inorgânicos, fazia-se então necessária, ao final do século XVIII e início do século XIX, uma reação ao paradigma mecanicista em voga.
Relativamente ao assunto, veja-se o pensamento de um dos mais eminentes pensadores, Fritjof Capra, em seu festejado livro “A Teia da Vida”¹, em A Ascensão do Pensamento Sistêmico.
Sob o subtítulo Movimento Romântico, escreve o autor:
“A primeira forte oposição ao paradigma cartesiano mecanicista veio do movimento romântico na arte, na literatura e na filosofia, no final do século XVIII e no século XIX. William Blake (1757 – 1827), o grande poeta e pintor místico que exerceu uma forte influência sobre o romantismo inglês, era um crítico apaixonado em sua oposição a Newton. Ele resumiu sua crítica nestas célebres linhas:
“Possa Deus nos proteger da visão única e do sono de Newton.”
Os poetas e filósofos românticos alemães retornaram à tradição aristotélica, concentrando-se na natureza da forma orgânica. Goethe, a figura central desse movimento, foi um dos principais a usar o termo “morfologia” para o estudo da forma biológica a partir de um ponto de vista dinâmico. Ele admirava a “ordem móvel” (brewegliche Ordnung) – concepção que está na linha de frente do pensamento sistêmico contemporâneo. “Cada criatura, escreveu Goethe, “é apenas uma gradação padronizada (Schattierung) de um grande todo harmonioso.” Os artistas românticos estavam preocupados principalmente com um entendimento qualitativo de padrões, e, portanto, colocavam grande ênfase na explicação das propriedades básicas da vida em termos de formas visualizadas. Goethe, em particular, sentia que a percepção visual era a porta para o entendimento da forma orgânica.
O entendimento da forma orgânica também desempenhou um importante papel na filosofia de Immanuel Kant, que é frequentemente considerado o maior dos filósofos modernos. Idealista, Kant separava o mundo fenomênico de um mundo de “coisas-em-si”. Ele acreditava que a ciência só podia oferecer explicações mecânicas, mas afirmava que em áreas onde tais explicações eram inadequadas, o conhecimento científico precisava ser suplementado considerando-se a natureza como sendo dotada de propósito. A mais importante dessas áreas, de acordo com Kant, é a compreensão da vida…”
2 – Percebe-se, a partir das preocupações do mundo artístico, particularmente dos grandes poetas da Humanidade, tais como Goethe² (1749 – 1832) e Schiller³ (1759 – 1805) e outros grandes vates da literatura mundial, que conseguem com poucas palavras a síntese necessária, núcleo do conhecimento em todos os departamentos do saber, que já soava o momento de uma vigorosa e imprescindível mudança de paradigma.
O propósito de submeter as partes do todo à análise precisava e devia ser revertido, ou seja, analisar o todo em função das partes e não as partes em função do todo.
Tal é a proposta do pensamento sistêmico, como diz o autor, em seguida, às páginas 40/41, em Pensamento Sistêmico:
“…A emergência do pensamento sistêmico representou uma profunda revolução na história do pensamento científico ocidental. A crença segundo a qual em todo sistema complexo o comportamento do todo pode ser entendido inteiramente a partir das propriedades de suas partes é fundamental no paradigma cartesiano. Foi este o célebre método de Descartes do pensamento analítico, que tem sido uma característica essencial do moderno pensamento científico. Na abordagem analítica, ou reducionista, as próprias partes não podem ser analisadas ulteriormente, a não ser reduzindo-as a partes ainda menores. De fato, a ciência ocidental tem progredido dessa maneira, e em cada passo tem surgido um nível de constituintes fundamentais que não podia ser analisado posteriormente.
O grande impacto que adveio com a ciência do século XX foi a percepção de que os sistemas não podem ser entendidos pela análise. As propriedades das partes não são propriedades intrínsecas, mas só podem ser entendidas apenas a partir da organização do todo. Em consequência disso, o pensamento sistêmico concentra-se não em blocos de construção básicos, mas em princípios de organização básicos. O pensamento sistêmico é “contextual”, o que é o oposto do pensamento analítico. A análise significa isolar alguma coisa, a fim de entendê-la; o pensamento sistêmico significa colocá-la no contexto de um todo mais amplo”.
3 – Ainda sobre o assunto, de acordo com o qual, em última análise, tudo está conectado, não sendo, pois, de se apoiar, contemporaneamente, o paradigma reducionista, que considera que a matéria se sobreleva ao psíquico, sendo que, na linguagem moderna da Filosofia e das ciências naturais, é exatamente o contrário. Veja-se, a seguir, a lição de Jung 4, (1875 – 1961) citado por Fritjof Capra, em seu opulento livro, “O Ponto de Mutação – A Ciência, a Sociedade e a Cultura emergente”5, quando se refere à saúde :
“Na concepção sistêmica de saúde, toda enfermidade é, em essência, um fenômenos mental, e, em muitos casos, o processo de adotar é invertido do modo mais eficaz através de uma abordagem que integra terapias físicas e psicológicas. A estrutura conceitual subjacente a tal abordagem incluirá não só a nova biologia sistêmica, mas também uma nova psicologia sistêmica, uma ciência da experiência e do comportamento humanos que percebe o organismo como um sistema dinâmico que envolve padrões fisiológicos e psicológicos interdependentes e está inserida nos mais amplos sistemas interagentes de dimensões físicas, sociais e culturais.
Carl Gustav Jung foi talvez o primeiro a estender a psicologia clássica a esses novos domínios. Ao romper com Freud, ele abandonou os modelos newtonianos de psicanálise e desenvolveu numerosos conceitos que são inteiramente compatíveis com os da física moderna e da teoria geral dos sistemas. Jung, que estava em contato estreito com muitos dos mais eminentes físicos de seu tempo, estava perfeitamente cônscio dessas semelhanças. Em uma de suas principais obras, Aion, encontramos a seguinte passagem:
“Mais cedo ou mais tarde, a física nuclear e a psicologia do inconsciente se aproximarão cada vez mais, já que ambas, independentemente uma da outra e a partir de direções opostas, avançam para território transcendente. (…). A psique não pode ser totalmente diferente da matéria, pois como poderia de outro modo movimentar a matéria? E a matéria não pode ser alheia à psique, pois de que outro modo poderia a matéria produzir a psique? Psique e matéria existem no mesmo mundo, e cada uma compartilha de outra, pois do contrário qualquer ação recíproca seria impossível. Portanto, se a pesquisa pudesse avançar o suficiente, chegaríamos a um acordo final entre os conceitos físicos e psicológicos. Nossas tentativas atuais podem ser arrojadas, mas acredito que estejam no rumo certo”.
REFERÊNCIAS:
1 – “A Teia da Vida” – Editora CULTRIX – São Paulo/SP – 10ª reimpressão – 1997 – cap. 2, p. 35/36;
2 – Johann Wolfgang Goethe e Schiller são os dois maiores poetas da literatura alemã. Foram contemporâneos, embora Goethe fosse dez anos mais velho do que Schiller. Ambos conviveram, entre si, e morreram na Cidade-Estado de Weimar. Goethe escreveu “Fausto”, poema trágico;
3 – Johann Christoph Friedrich Schiller escreveu, além de “Hino à Alegria”, “Textos sobre o Belo, o Sublime e o Trágico”;
4 – Carl Gustav Jung, psiquiatra e psicoterapeuta suíço, foi discípulo mais importante de Sigmund Freud (l856 – 1930, também psicólogo suíço além de médico. Jung escreveu, entre outros, “Memórias, Sonhos, Reflexões”.
5 – “O Ponto de Mutação” – Editora CULTRIX – São Paulo/SP – 26ª reimpressão – 2006, cap. 11, p. 351;
Nota: de meu livro, inédito: “Deduções Filosóficas e Induções Científicas da Existência de Deus” – 2ª Parte (Contribuição da Filosofia e da Ciência para uma nova Visão de Mundo e do Universo).
(Weimar Muniz de Oliveira, wei[email protected])