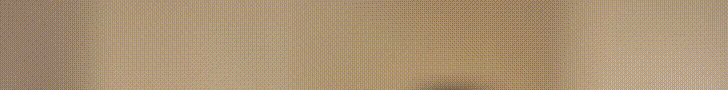Imagens de vaqueirice
Redação DM
Publicado em 1 de abril de 2017 às 01:45 | Atualizado há 8 anos
Cada um dos vaqueiros de meu pai tinha sua história. Nos tempos mais longínquos, que não chequei a alcançar, os fazendeiros costumavam morar nas próprias fazendas, convivendo com a família do vaqueiro, que se transformava numa espécie de criadagem.
Quando meus pais se mudaram do Santo Antônio, onde nasceram alguns de meus irmãos, era vaqueiro Estanislau, cujo único vestígio que ficou foi uma cruz numa velha tapera na manga de pasto, onde – dizem – costumam aparecer aleivosias em noites pesadas. Nélio e Osvaldo, os irmãos mais velhos, conviveram com Estanislau e contam causos de seu tempo, das visagens que apareciam debaixo dos pés de pequi e embiruçu na época das esperas.
Depois de Estanislau, creio que o vaqueiro foi o velho Jobilino, preto retinto, mas que detestava preto e cuja marca registrada eram os xingamentos descomedidos que não escolhiam palavras, local e circunstantes.
Nélio, logo após o casamento com Idinha, também andou sendo vaqueiro, aventurando umas crias na sorte de um bezerro para cada quatro paridos.
Do velho Manoel Dourado pouco me recordo. Só me lembro do dia em que o vi num caixão coberto de flores de boca-de-leão e sempre-lustrosa, enquanto a velha Isabel e os filhos (Antônio, Roberto, Teresa, Xixico, Dondona e Maroto) davam alho para ela cheirar e água com flor de laranjeira e colônia “Regina” para tomar, para não beber o fôlego.
Meu irmão César, que chegou a prefeito de minha cidade por duas vezes, teve seu período de vaqueirice, assim como meu cunhado Moreno, marido de Deija, que teve efêmera passagem pelo Santo Antônio.
Um dia, lá na praça Liberato Póvoa (que naquela época se chamava Pedro Ludovico), o gadão dos Valente descansava para prosseguir a viajona rumo aos gerais do Fumaça para o refrigério da seca. Meu pai, na calçada lá de casa, reparou um forasteiro que, ao contemplar a gadama, não segurou as lágrimas, passando a manga da camisa nos olhos, como se algo o tocasse lá no íntimo. Intrigado, o velho Liberato quis saber o motivo daquilo. Ele explicou que era chegante da Bahia, um apaixonado pelo gado. Levado para o Santo Antônio, que por sinal estava sem vaqueiro, Chico Rodrigues foi o melhor vaqueiro que passou naquela fazenda.
Depois, Chico Rodrigues, a quem a sorte sorriu e lhe propiciou uma gleba de terra comprada com sacrifício, arrebanhou o gadinho ganho por sorte e tornou-se um quase fazendeiro.
Aí, veio compadre Zeferino, que passou a vaqueirice ao filho Wilton muito depois. Compadre Zeferino, indolente e analfabeto, sempre foi vaqueiro, mas jamais sustentou um bezerro, pois vivia “da mão pra boca”, vendendo o que tinha para sustentar a filharada e a netaiada imensas, que sempre lhe viveram nas costas fracas. Sempre esfarrapado, descalço e vestido em uma perneira e um gibão rotos, até as roças que seus braços indolentes plantavam eram vendidas na palha. Pobre nasceu, pobre viveu, pobre morreu, cheio de filhos e empencado de netos.
Isto, no Santo Antônio.
No Pintado, acolá no sertão de Conceição do Tocantins, terra do impaludismo, só dois vaqueiros atravessaram os mais de cinqüentanos: o velho Sérgio Canela, que, descendente de escravos, guardava na subserviência e na lealdade profundas marcas de suas origens. Foi ele quem amargou a época em que a Coluna Prestes atravessou o sertão nos anos vinte, bem como os jagunços da Bahia – Abílio Batata, Roberto Dourado, Passarinho e outros – que, após os combates na Vila do Duro, promoveram violenta sebaça, empobrecendo os ricos e judiando dos pobres. E o velho Sérgio Canela morreu amargando a suspeita de ter devastado a fazenda de meu pai, que ficou quase arrasada, pois, de mamando a caducando, o gado quase acabou.
Por último – este eu alcancei -, foi Justino Rocha. Bem apessoado, vozeirão desimpedido e muito engraçado, Justino foi bom vaqueiro, conhecendo o gado por dentro e por fora. Mas, inobstante bem conceituado, era analfabeto; e não fazia se-gredo disso. Bilhete de meu pai era levado longe, à procura de um letrado. E todo ano, para não ter que mandar um positivo até o Pintado para dar o recado de boca, meu pai fazia Justino caminhar léguas e léguas atrás de quem lesse.
Mas Justino, apesar de analfabeto, não era besta, e acertou com meu pai a maneira de poupar-lhe o sacrifício sem precisar de recorrer a um emissário decretado:
– Pois bem, patrão, fica assim: quando vossemecê quisé qui eu junte gado mode vendê, desenha um bando de gado e um curral; mas quando vossemecê desenhá uma vaca e uma faca, já sei: é mode matá um gado, fazê as manta, secá a carne e levá na rua!
Hoje não existe mais nada disso: o Santo Antônio foi transformado em em-preendimento agrícola de meus irmãos Solon e Deodato, e o gado vendido; o Pintado, com a morte de meu pai, foi dividido, e hoje pertence aos herdeiros de Nélio e Solon, que adquiriram o quinhão dos demais.
De tudo isto restou só a imagem dos vaqueiros que conheci aboiando o gado e as histórias que a boca do povo trouxe para traçar o perfil daqueles que labutavam .
(Liberato Póvoa, desembargador aposentado do TJ-TO, membro-fundador da Academia Tocantinense de Letras e da Academia Dianopolina de Letras, membro da Associação Goiana de Imprensa (AGI), escritor, jurista, historiador e advogado. [email protected]