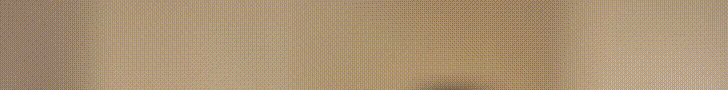Passado esta sempre pronto a ser recuperado por um presente vivo
Redação DM
Publicado em 30 de março de 2017 às 03:21 | Atualizado há 7 meses
- O historiador não é independente em relação ao herdado, diz o professor da PUC Eduardo José Reinato
- Novo pacto social, pós-ditadura civil e militar, começou a ser efetivado com Constituição de 1988
- Ele cita Walter Benjamim e frisa que choques causados pela barbárie ou traumas servem ao silenciamento
- Militar, conservador, Mauro Borges instaura comissão de expurgo e inquéritos e apoia, sim, queda de Jango, afirma
– O ato de lembrar está sempre atravessado pela necessidade ou circunstância do esquecer!
É o que afirma o doutor em História da Pontifícia Universidade Católica de Goiás [PUC – GO], Eduardo José Reinato, 53 anos, ao citar Walter Benjamin, que suicidou-se em 1940, e analisar, na história da humanidade, a ‘batalha pela memória’.
– O passado está sempre pronto a ser recuperado por um presente vivo e audacioso…
O pesquisador informa ao Diário da Manhã que políticos, a mídia e até certos historiadores vinculados ao poder, produtores de uma história oficial ou tradicional, contribuem na relação com a produção de uma relativa ‘Memória Histórica’.
– Ao historiador, antes de tudo, não cabe julgar os personagens.
Mauro Borges procedeu à instauração de uma comissão de expurgo e a inquéritos, admite. Nunca negou que apoiou a derrubada de Jango desde o primeiro momento, diz. Ele era militar e um político do PSD, frisa. Com uma forma de Pensar conservadora
Diário da Manhã – O que é, na História, a batalha pela memória?
Eduardo J. Reinato – A busca das ações e experiências dos homens no tempo tem sido a grande ambição da História e dos historiadores. Em virtude disso, temas, períodos, periodizações, e interpretações são revisitados para não só estabelecer um conhecimento de fatos ocorridos no passado e sim, de também revisitar experiências de outrora por intermédio de proposições, debates e/ou questionamentos do tempo presente. Parto de um pressuposto de que há uma sutil articulação entre as evidências testemunho ou como se denomina mais comumente, os documentos ou histórias e o discurso elaborado pelos historiadores e através da historiografia. Este se tornou a base a partir da qual a história tem sido escrita e reescrita ao longo dos tempos, embora, em diversos momentos, tal empreitada tenha almejado a universalidade e a abrangência caras ao conhecimento científico. Ao se valorizar a especificidade das evidências/testemunhos/documentos selecionados e construídos, deve-se também se ater à relação entre passado e presente, elemento de relevância extrema para o historiador, pois não há trabalho historiográfico sem diálogos constantes com o presente. Isto está na lógica da tese benjaminiana de que não se pode renunciar a qualquer conceito de presente, que não se tenha por pressuposto, de que esse presente não seja transição. O passado está sempre pronto a ser recuperado por um presente vivo e audacioso, e mesmo ameaçado, que permite-nos definir a própria razão de ser de se pesquisar o passado e retirar dali, forças, ações, experiências e lutas dos agentes sociais de outros tempos. Já que o contato com o passado se estabelece por meio de mediações com o presente e, nesse caso, não existem reencontros imediatos, mas sim um processo reflexivo e, acima de tudo, mediatizado pelo “hoje”, “povoado de agoras”. Dessa forma, instaura-se um procedimento interpretativo, em que o historiador e seu próprio tempo não podem ser entendidos como entidades desprovidas de “lugar”, ou marcados por uma pretensa “neutralidade” diante da análise do passado mas, ao contrário, inserido enquanto sujeito da própria pesquisa. O historiador não é independente em relação ao herdado. O historiador deve estar sempre atento às memórias e políticas de controle da memória e esquecimento. Cada agente social, cada controlador dos mecanismos de produção da memória, das “Memórias Históricas” e de Lugares de Memória, elabora uma política para que a sua memória seja não só a verdadeira, como a vencedora. Isto tem a haver com a identidade dos produtores de memórias e de esquecimento numa sociedade em conflito e marcada por interesses muito claros de identidades de classe social.
DM – O que Edgar De Decca quer dizer em ‘O Silêncio dos Vencidos’?
Eduardo J. Reinato – Edgar de Decca faz uma reflexão da historiografia datada dos anos 1970 e 1980. Sobre a necessidade de se proceder a uma história dos vencidos, ou uma história a partir da visão dos vencidos. Ela foi influenciada originalmente pelo historiador e antropólogo francês Nathan Watchel, que em 1971 publicou na França, um livro denominado A visão dos Vencidos os índios do Peru diante da Conquista espanhola (1530-1570) . A obra de Edgar de De Decca, envolvido por essa discussão, é um exercício de análise sobre os mecanismos de produção da memória histórica. Edgar de Decca integrava um grupo formado na USP, que muito influenciou a forma de se pensar a historiografia brasileira. Juntamente com José Carlos Vesentini, que publicou ‘A Teia do Fato’ e Alcir Lenharo que contribuiu com a obra ‘A sacralização da Política’, De Decca percebe os mecanismos de construção da historiografia como um exercício da experiência de poder. ‘O Silencio dos Vencidos: Memória, História e Revolução’ é pensado e construído a partir do entendimento de como a ideia e o marco da Revolução de 1930 são elaborados a partir dos enunciados dos discursos políticos da época. Tais discursos, para se legitimarem, criam a Revolução de Trinta como fato histórico fundador. Fundador de uma pretensa nova fase da República. Dessa maneira, estes discursos políticos e sua transformação em discurso histórico, sobretudo, através de livros didáticos e da mídia [jornais e rádio na época], instituem uma memória com uma visão dos vencedores, para a legitimação por parte dos grupos que chegaram ao poder com Getúlio Vargas. Este é um exemplo de como os políticos, a mídia e os historiadores vinculados ao poder [produtores de uma história oficial ou tradicional] funcionam na relação com a produção de uma Memória Histórica.

DM – Qual a contribuição de Walter Benjamin nos conceitos de História e Memória?
Eduardo J. Reinato – Em suas obras, a problemática do lembrar está sempre atravessada pela necessidade ou circunstância do esquecer. Em meio a esta percepção, Benjamin está enfocando o ato de narrar. Assim, o narrador precisa rememorar o que lhe está distante, ou mesmo o outro, para tentar salvá-lo, a ele narrador, e ao referido por sua narração. A questão da rememoração atravessa quase a totalidade da obra de Benjamin, que não é simples. Há dois contextos para entender sua abordagem sobre a memória. O primeiro seria o teórico-literário, e neste sentido, a discussão sobre o ato de rememorar vincula-se diretamente à teoria da narração e à forma de mudança dos gêneros literários. O outro contexto, vinculado diretamente ao nosso ofício, é o da reflexão sobre a escrita da história. E nesse sentido Benjamin se refere a uma história do “Eu”, do singular, do constructo autobiográfico ou a história coletiva. De qualquer maneira, em ambas, memória é um conceito inseparável de uma reflexão sobre o ato de narrar. Assim, a história, a memória e a narrativa não são conceitos estáticos. Segundo Benjamin, eles precisam ser tomados no seu movimento, por sofrerem transformações históricas. O historiador deve se dedicar a análise dessas transformações e elucidar as diferenças entre elas no tempo e no espaço. As famosas “Teses” de Benjamin ou “Sobre o Conceito de História” são a referência essencial para se perceber o movimento crítico que Benjamin faz em relação à prática dos historiadores em seu tempo, sobretudo os historicistas e aqueles voltados ao projeto de dar sustentação ao desenvolvimento de uma legitimidade ao nazifascismo que então se desenvolvia na Europa. Benjamin brada contra o perigo da produção de uma prática de esquecimento, de mudança a-histórica, praticada por muitos intelectuais das décadas de 20 e 30, e como isso contribuía não para o exercício da verdade, mas para macular a verdade histórica. O pós-primeira guerra, os choques causados pela barbárie, ou Traumas [para Freud] serviram para o silenciamento do ato de lembrar, e também para o fim da saudável prática de narrar experiências. A diminuição do ato de narrar acarretou também a perda da capacidade de formar pessoas com a experiência de escutar. Isto servir para matar as memórias de experiências. Transformou-se assim, em campo aberto para o desenvolvimento e oficialização de uma narrativa do poder, então, uma memória histórica que interessava ao poder, e que nele se estabelecesse para agir como figura heroica, ou liderança suprema. Daí como se deu Hitler, Mussolini, Franco, Stálin, Salazar e seus asseclas copiadores em outros continentes e épocas.
DM – A narrativa, de 1964, em Goiás, aponta que o tenente Mauro Borges – amigo do marechal Humberto Castello Branco – rompera com Jango, apoiara o golpe civil e militar, promovera caça às bruxas e delações, mas que, com a sua deposição, em 26 de novembro do mesmo ano, passou a ser visto como vítima e reabilitado em 1982, nas urnas. Qual a sua análise?
Eduardo J. Reinato – Ao historiador, antes de tudo, não cabe julgar os personagens. Todo o processo de apontamento de nomes foi uma imposição a todos os governantes pelo Ato Adicional. Mauro Borges procedeu à instauração de uma comissão de expurgo e aos referidos inquéritos. Nunca negou que apoiou a derrubada de Jango desde o primeiro momento. Ele era militar e um político do PSD. Com uma “forma de Pensar” conservadora, no sentido teórico do termo dado pelo sociólogo Karl Mannhein. Sem pesquisas aprofundadas, com uma problematização consistente e com a devida seriação de documentos, podemos incorrer em equívocos de generalização apressada. Veremos que outros políticos daquele tempo, apontaram voluntariamente comunistas e subversivos, mais do que o próprio Tenente Mauro Borges. Há de se observar o jogo político por trás da entrega dos nomes. Esse jogo remetia ao antigo conflito Ludovicos X Caiados. PSD X UDN. Tem que se remontar este quadro para não se condenar a priori figuras individualmente. Era uma época de ruptura institucional e política. Havia oportunistas de plantão, desejosos de angariar simpatias com os militares que tomam a chefia do poder nacional, através da articulação intervencionista anticonstitucional de 1964. Há para mim um questionamento a ser observado. Poderia o governador não apontar aqueles que tinham vínculo com as esquerdas e eram funcionários públicos? Olhar o documento fruto de uma Comissão de Expurgo, exigida por lei discricionária expedida por um governo eleito indiretamente pelo Congresso Nacional, permite-nos julgar politicamente todo o governo de Mauro Borges? Como historiador, creio que precisamos ver os documentos e a história a contrapelo, como bem lembra Benjamin e não nos deixarmos levar pela aparência da documentação e as narrativas centradas nas atuações individuais de herói ou anti-heróis. Este é o tipo de história que interessa à ideia de constituição de projetos personalistas de Nação, ou projetos políticos específicos de famílias, oligarquias, caciquismos. É preciso enxergar o movimento e as múltiplas vozes que advém de um documento. Se pensarmos dentro da perspectiva de uma Nova História política, em que agentes sociais [partidos, sindicatos, eleições] são mais importantes de que indivíduos em protagonismo na cena. Faz-se necessário cruzar documentos, hipóteses e problemas. Dou apenas um exemplo. O documento da Comissão de Expurgo, que nomeia os envolvidos por atos de subversão ou ligação com partido(s) comunistas, é requerido pela Assembleia Legislativa pelo deputado estadual Osires Teixeira, e encaminhado pelo então presidente, um político neófito que despontava no PSD chamado Iris Rezende Machado. Ao historiador cabe perguntar: por que Osires Teixeira requer a publicização das apurações da comissão de Expurgo? Quais os interesses do então presidente da Assembleia em dar publicidade ao documento? A oposição ao governo Mauro Borges, ávida por vinculá-lo com atividades subversivas, o que teria para usufruir de todo esse processo? A História não é exercício de conclusões imediatas e de meras opiniões.
DM – Documento secreto enviado às Forças Armadas, em outubro, assinado por Mauro Borges, mostra relação de nomes classificados como subversivos dos poderes executivo e judiciário. Depois, eles foram demitidos ou aposentados e presos. Testemunhas ainda vivas confirmaram o processo. O que pode-se apreender do ‘ofício reservado’ 53 anos depois?
Eduardo J. Reinato – O documento é um importante testemunho de uma época e de um governo. Precisa ser confrontado com outros documentos, inclusive, contextualizado para ser entendido na sua relação com a história daquele momento, seja em Goiás, seja no Brasil. Somos herdeiros de uma história de forte influência jurídica. Isto nos influencia a fazermos julgamentos mais do que interpretações históricas. Não é possível julgar um período da história tendo em mãos apenas um documento. Quero ressaltar um outro aspecto, que é o papel das “testemunhas vivas”. Passaram o que passaram. Mas há de se questionar o quanto de ressentimento, de angústia e de trauma compõem os relatos do presente sobre aquele passado. Como historiador que sou, envolvido com a perspectiva das sensibilidades, estes fatos contribuem para retomar o passado, o documento e os testemunhos do presente e propor um entendimento mais amplo do que o de mero julgamento. O documento, portanto, só me traz uma única certeza: ou contribuímos para a formação de mais historiadores que possam ser capazes de mergulhar em arquivos com documentos desbotados e velhos e fazer perguntas diversas, munidos de recursos teóricos para enxergar além do que está meramente exposto; ou fazemos como desejam os donos das atuais “políticas da memória Histórica”, acabando com esse exercício tão comprometedor de construção da consciência crítica de um povo, eliminando esta disciplina do ensino médio e obliterando os trabalho científico dos historiadores acadêmicos.
DM – O termo civil e militar para conceituar a ditadura no Brasil é correto?
Eduardo J. Reinato – O termo me parece mais correto, conceitualmente falando, do que apenas ditadura militar. Ainda que hoje se construam teses revisionistas de que sequer houve ditadura, é inegável vermos a atuação de um projeto civil militar de tomada de poder para cumprir objetivos que eram comuns à burguesia e pequena burguesia brasileira da época. Dá de se convir que os militares eram uma representação ínfima dessas classes. Na verdade, são representantes, atores chamados a intervir para garantir o velho desejo de Ordem para o progresso, embora tenham dentro da Escola Superior de Guerra, concebido todo um projeto de tomada de poder e realização de um antigo sonho que advém desde a Proclamação da República: o ver o Brasil como potência econômica e militar mundial. O importante é notar que não se pode perceber o período de ditadura civil-militar, como um período homogêneo, de atuação dos militares, nem de atuação da classe dominante no interior do movimento. Há momentos em que predomina uma supremacia dos militares nas ações de organização do Estado. Em outras eles necessitam de tecno-burocratas para subsidiá-los na tarefa de dar organicidade para o projeto. Mas em todo o processo, que durou 21 anos, segundo alguns historiadores, nunca os militares deixaram de contar com uma base de políticos tradicionais e civis, e durante algum tempo, como apoio de instituições religiosas, como parte de Igreja Católica e de outras Igrejas que são estimuladas até a se estabelecerem no país. Vale lembrar que setores das classes médias e até setores das classes trabalhadoras apoiaram em algum momento algumas das ações e feitos da ditadura civil-militar. Quando houve um recrudescimento do núcleo militar no poder, a partir de 1968 até 1974, obtiveram apoio significativo de setores empresariais e civis-burocráticos. E não só se obteve apoio de uma elite pensante [intelligentsia], mas com um razoável apoio em setores populares. Nada novo no Brasil. A situação começou a se modificar com o advento da grande crise instaurada a partir de 1973, marcada pela crise do petróleo [OPEP] e o fechamento das comportas facilitadoras de empréstimos externos. Mas teve um componente político civil importante, marcado pela rearticulação das bases políticas e dos diversos movimentos da sociedade civil, [Comunidades de bairro, Comissões de Fábrica, Comunidades Eclesiais de Base] descontentes tanto política como socialmente. O descontentamento era com a direção imposta pelo grupo civil militar no poder. Era também um descontentamento com a ineficácia dos militares e civis no poder de tratar politicamente os novos agentes sociais, e não apenas policialmente. Isto deveria servir de lição sempre aos militares e políticos ambiciosos de plantão.
DM – O golpe de Estado civil e militar ocorreu em 31 de março ou em 1º de abril?
Eduardo J. Reinato – O início das movimentações se dá na madrugada do dia 1º de abril. Por razões óbvias de construção de uma memória positiva, melhor seria evitar o marco de uma Revolução coincidente com o dia mundial da mentira, que é o 1º de Abril. O golpe é um processo que foi sendo gestado desde de antes do suicídio de Vargas. Diversos golpes se concretizando para um enredo final, que sequer se encerra com a chegada ao poder de Castello Branco. Vem se articulando desde 1954. Rechaçado pelo golpe preventivo do Marechal Lott em 1955. Teve uma primeira tentativa no período de renúncia de Jânio Quadros, mas em ambos, a elite política, civil e militar, saiu pela velha “ação conciliatória incruenta”, para citar José Honório Rodrigues [Reforma e conciliação]. Em 1964, não só estavam prontos os militares brasileiros, mas os militares e políticos norte-americanos [vide Operação Brother Sam]. Deve-se ressaltar que, sobretudo a burguesia e a pequena burguesia, estavam nesse momento ávidos pela superação do predomínio de ações do pacto trabalhista-populista. Ansiava-se pela construção de uma hegemonia burguesa de fato, e esperava que os militares proporcionassem o desejo de “Brasil Grande”, “Brasil Potência mundial“, liderança inconteste na América do Sul e na África. Nada de novo, este projeto estava expresso no desejo das elites aristocráticas imperiais desde D. Pedro I. Era apenas mais do mesmo, num tom um pouco mais esverdeado do que antes.
DM – Carlos Fico, em entrevista ao Diário da Manhã, diz que a ditadura civil e militar no Brasil inicia-se em 1964 e termina dia 15 de março de 1985. Daniel Aarão Reis Filho discorda e diz que ela inicia-se em 1964, acaba em 1979, com a revogação de atos de exceção, como o AI-5, a libertação dos presos políticos, a volta dos exilados, o fim da censura à imprensa e o pluripartidarismo. Qual a sua observação?
Eduardo J. Reinato – A história não é uma ciência exata, e portanto, vejo que ambos os enfoques, se prestarmos a atenção, respondem a problemáticas diferenciadas e visões diferenciadas. A questão dos marcos históricos constituem-se políticas de memória. A certeza das datas é marca de concursos e de uma história que precisa ser construída dentro de uma partitura que tenha começo meio e fim. O que noto é que ambos concordam com o começo e não com a data de desfecho da ditadura civil e militar. Quando encontro documentos que mostram a atuação dos arapongas ainda na década de noventa, pergunto-me também sobre o sentido do desfecho. Talvez o novo pacto social, pós-ditadura civil e militar começou a ser efetivado com a aprovação da “Constituição Cidadã”, como ficou apelidada a carta de 1988. Seria uma outra forma de problematizarmos o final da história, ou forma diferenciadas de entendermos a história como exercício de transições constantes.

DM – A ditadura civil e militar no Brasil não foi apenas coerção, mas consenso, legitimidade e consentimento. O que quer dizer com isso?
Eduardo J. Reinato – Nenhuma forma de governo, nenhum regime se consolida sem a aquiescência das classes dominantes articuladas com desejo do povo e da população, ainda que estas possam chegar a isso através da manipulação midiática e ideológica. Para o bem ou para o mal, o povo é o grande termômetro e dosador de ações. Pode-se não ter a maioria, mas pode-se aos poucos se conquistar e se calar a maioria. Na história temos visto isso. Ás vezes bastam “Pão e Circo”. Um livro que sirva de guia moral e religioso, bastemos que olhemos para os governos teocráticos. Outras vezes falam mais altos os cacetes, fuzis, choques e … ora sabemos onde isso foi ou vai. Mais contemporaneamente, é necessário se criar um inimigo externo. Vide o caso Dreyfus na França, os Judeus na Alemanha nazista, e os muçulmanos em geral nos países ditos desenvolvidos do hemisfério norte, mais atualmente. É preciso se catalisar pulsões em torno do grande chefe, ou do “Grande Irmão”. No sombrio Brasil em que nasci, o inimigo era o subversivo, o comunista… Em algum momento, quase fabricamos os argentinos como inimigos. Aliás, vale lembrar a idiotice argentina que em meio ao predomínio militar de Videlas e Cia. tentaram fazer uma guerra com o Chile pelo estreito de Beagle, e depois, não frutificando, resolveram retomar as Ilhas Malvinas. Risível tentativa, mas os militares produziram um lapso de legitimidade nacionalista naquele momento. O poder pode produzir Consenso e consentimento através da coerção. É a inevitável função do Estado. Até se usa de corrupção para construir-se o que hoje se chama de “governabilidade”, basta que recordemos casos recentes. Mas o Estado tem por pressuposto construir a hegemonia da classe dominante através do consenso, que é a soma da possibilidade de coerção com a ideologia. Quando isso se dá, não precisa de repressão para que as coisas continuem na ordem. Tudo isso me fez lembrar Lampedusa, no famoso livro O Leopardo. Um aristocrata vendo a discussão dos liberais solta a máxima do conceito de Consenso: “as coisas têm de mudar para continuarem as mesmas”. No período áureo do Império brasileiro, os políticos dos partidos Conservador e Liberal se gabavam de afirmar: “não há nada mais Saquarema do que um Luzia no Poder”, que é traduzido assim: não há nada mais conservador do que um liberal no poder. Este é o modelo de ordem e progresso desejado desde o Império e tornado lema de nossa bandeira pela República.
A História não é exercício de conclusões imediatas e de meras opiniões
Eduardo José Reinato, Historiador
Diminuição do ato de narrar acarretou perda da capacidade de formar pessoas com a experiência de escutar
Eduardo José Reinato, Historiador
Perfil
Nome completo – Eduardo José Reinato
Idade – 53
Formação: Licenciado em História pela UFG; Especialista em História do Brasil pela PUC – MG; Mestre em Ciências – História Social da Cultura pela Universidade de São Paulo – USP; Doutor em Ciências – História Social da Cultura pela Universidade de São Paulo – USP
Instituição que leciona – PUC Goiás
Cargos que ocupa – Diretor do IPEHBC – Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central da PUC – Goiás; Professor do curso de História – PUC Goiás; Professor do Programa de Mestrado em História: cultura e poder – PUC Goiás; Professor colaborador do Programa de Mestrado Interdisciplinar em Performances Culturais – UFG