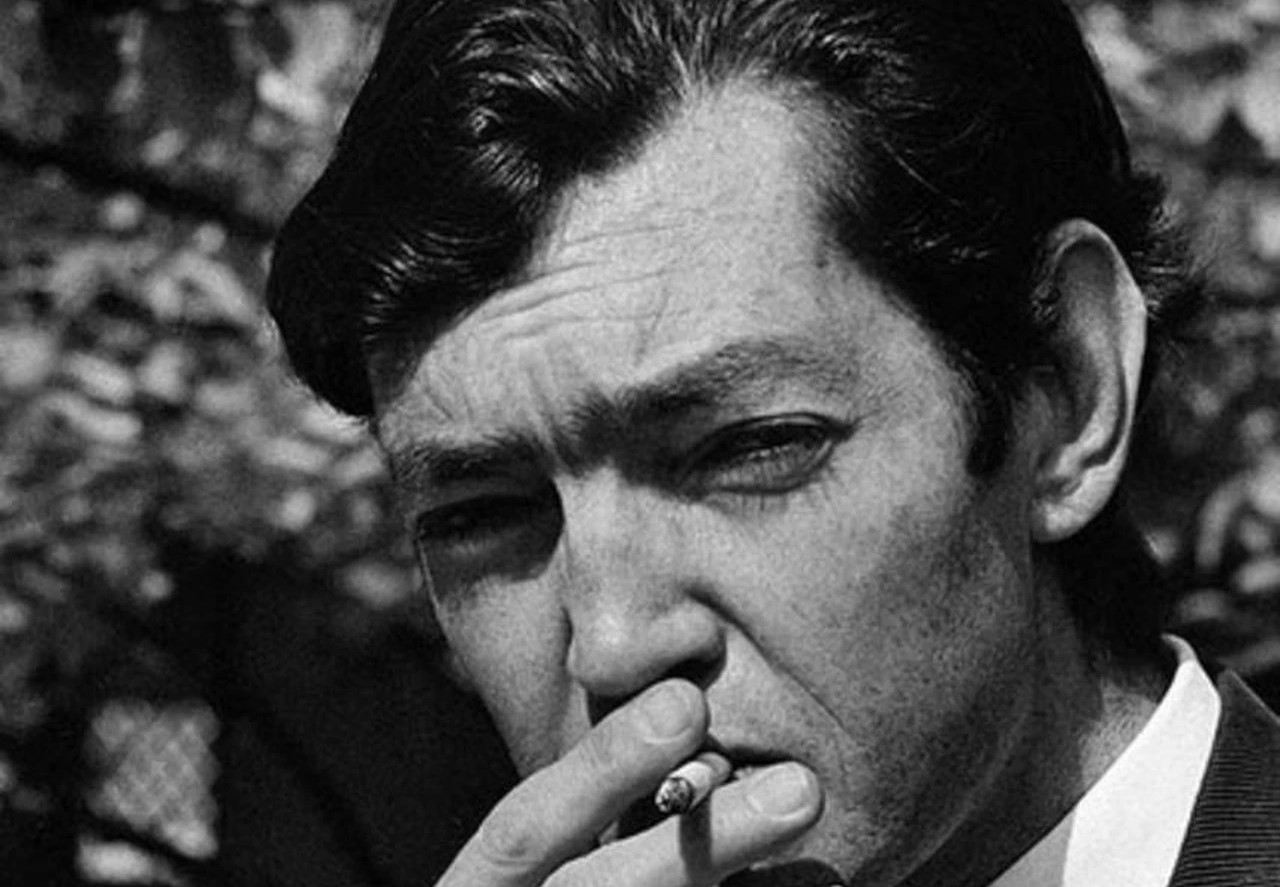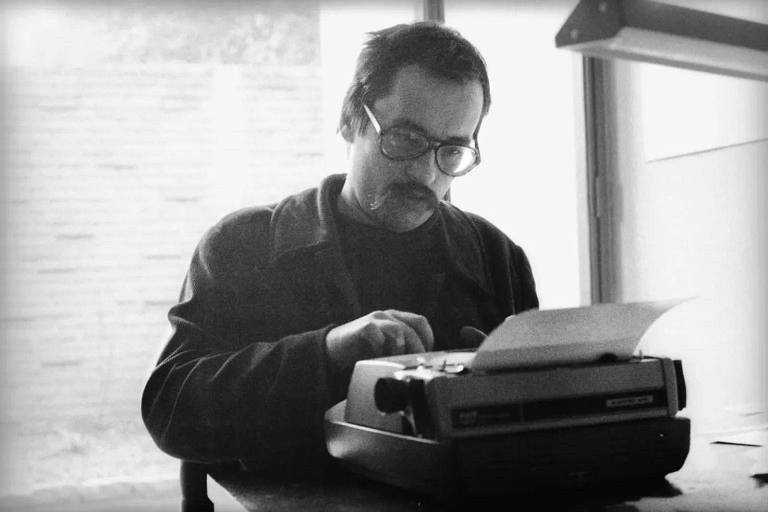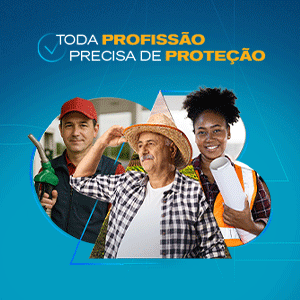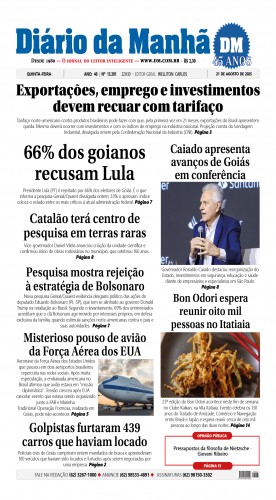Paisagem goiana na obra literária
Redação DM
Publicado em 25 de agosto de 2015 às 23:03 | Atualizado há 8 mesesAo se destacar sobre os costumes sociais, tanto em Vila Boa quanto em Uberaba, a voz narrativa enfoca, por intermédio de Arabela, a questão do ciúme feminino em relação às outras mulheres, em geral, falsas recatadas, que viviam falando da vida alheia. Ciúme este muito mais ligado à perda do papel social e de poder que de amores pelo marido. Vamos observar também o relato dessa preocupação no discurso indireto livre: “Gente esquisita, pensou. Costumes que eu não entendo. As mulheres não me olham de frente. Gostam de olhar por trás, depois que se passa! Decerto não gostam de mim! Tinha que ser assim mesmo! Vivem apaixonadas por meu marido! Eu que não abra os olhos pra ver!” (p. 59)
E quanto à vida de pândegas do marido, Antonio do Amaral, em Uberaba a opinião geral era que mulher sensata era aquela que se mantinha em sua dignidade e que aguentasse tudo, porque no futuro o marido, cansado e velho, seria, enfim, somente dela. Neste trecho vemos o discurso direto: “Num falei? Comentou Joaquina baixinho – num falei pra Sinhazinha? Sinhá tem que muda de modos. As muié tem que sê diferente, tem guentá tudo!” (p. 65)
E para a situação feminina, como compensação, havia sempre um ponto positivo em tudo. Outra vez é a voz apaziguadora e conformista da escrava: “Mas minha fia…ele dá tudo qui Sinhazinha qué! Os vestido mais bunito da cidade ele compra pra suncê… os ôro mais pesado é do cordão de Sinhazinha. Tudo de mio ele dá… nunca dêxa de pô cobre na sua borsa. Dêxa ele fazê o que bem entender na rua! Num ta nas suas vista! Os home são assim mesmo. De veis in quando eles precisa variá. Mais tarde suncê vai cumpriendê tudo direitinho…” (p. 68)
A historicização da ficção ocorre quando a narrativa de ficção imita a narrativa histórica. Nesse caso, todos os elementos descritivos ou narrativos devem demonstrar o fato como se este “se tivesse passado”, na concepção de Ricouer e mais ainda, lançando raízes na concepção de Aristóteles que toda intriga deve ser provável ou necessária, daí a verossimilhança.
É assim o romance histórico, pois, relatando de modo mais ou menos fiel um passado, discute ainda com as possibilidades deste, com o que poderia ter acontecido. No romance de Rosarita Fleury, notamos na descrição do poder aquisitivo do coronel Alfredo e nos bailes do Palácio Conde dos Arcos uma comprovação do que foi dito, pois era assim o poderio dos fazendeiros goianos do século XIX e também assim os bailes oficiais no centenário casarão que era sede do poder estadual: “A residência dos Prado Vilhem, em Vila Boa, era antiga, tipo colonial, como todas as casas, de grandes beiras e janelas altas, em arco. Encimando a porta, em trançado de grades femininas, liam-se as iniciais M.A.ªP.V., Marco Antônio Prado Vilhem, avô de Alfredo e proprietário que reformou toda a casa e adquiriu as belas mobílias, ricas cortinas, tapetes e enfeites todos que então se viam.” (p. 72-73)
Quanto aos bailes no Palácio Conde dos Arcos, sede do governo, a voz narrativa faz descrição de costumes de cumprimentos, a burguesia que se mostrava e vivia da própria fama, assim como as fofocas comuns em ambientes tais. A narradora utiliza o discurso indireto livre, através dos pensamentos da personagem Madalena: “Cumprimentar todos os amigos. Lá está o coronel Nogueira. Boa noite! Será que cumprimentei direito? Que dei um sorriso amável? Ser delicada e atenciosa… não falar muito alto… não ficar de cara fechada!… Seu Faria e seu Lima… boa noite… cruz! Como é que seu Valério está barrigudo!… Nossa Senhora!… parece mulher que vai ter neném! Ai, meu Deus! Não deixe que eu ria, não! Tenho que ficar séria. Mamãe recomendou…” (p. 83)
Na visão crítica de Mignolo, um romance histórico é um gênero que tenta assimilar as convenções de veracidade e ficcionalidade, sendo a primeira baseada em fatos e personagens históricos e a segunda centrada na liberdade de misturar os fatos ocorridos com elementos puramente ficcionais.
Assim, vemos no romance de Rosarita a situação vivida pela mulher no século XIX que, muitas vezes, sentia-se impotente e sem voz dentro da própria família, como o caso da personagem Ângela, que mesmo contra o casamento de Ernesto, não conseguiu fazer valer sua vontade de mãe: “Não concordam comigo. Infelizmente pensam de modo diferente e, para falar a verdade, minha opinião foi a que menos pesou na resolução do seu casamento. Não estou criticando o caminho tomado por seu pai. Ele é homem e pensa melhor que eu…” (p. 127)
Este é o pensamento dominador de seu tempo. Ao homem cabia a supremacia do comando no lar. A mulher, resignada, apenas obedecia às ordens do comando, sabendo contornar as coisas e aparar arestas e rancores.
Vemos assim que a questão abordada por Walter Mignolo nos remete às noções de ficção-mentira e verdade-ficção que o crítico aborda da seguinte forma: “Quando no romance imita-se o discurso antropológico, estamos diante de um duplo discurso: o ficcionalmente verdadeiro do autor e o verdadeiramente ficcional do discurso.”
No romance de Rosarita Fleury vemos as imposições sociais de um regime severo imposto às mulheres e aos jovens de uma maneira geral.
Com o advento da abolição, a personagem Isabel vai crescendo em comando e responsabilidade dentro do pequeno feudo de Santa Lúcia, contrariando os preceitos de Ângela de que aquilo não era coisa para mulher, que antes deveria pensar num bom marido para ampará-la na futura velhice. É novamente a voz conformada de Ângela num desabafo: “Também acho. Alfredo. Concordo com você. Mas Isabel é moça. Tem que se casar um dia… E olhe que já está ficando velha. Já tem 24 anos completos, e até hoje nenhum noivado!… chego a ter receios…” (p. 138)
Era a velha visão brasileira do século XIX de que, cedo, a mulher deveria estar preparada para o matrimônio, razão de casamentos aos 12, 13 e 14 anos. Sendo Isabel uma matrona de já 24 anos, estava realmente, dentro dos costumes da época, moça velha, uma quase beata. Os casamentos eram geralmente arranjados e comprometidos pelos pais; da parte dos filhos deveria apenas haver obediência e silêncio em relação a tais assuntos. Vejamos nesse segundo trecho, na voz autoritária de Alfredo: “Proíbo que voltem a falar nesse assunto – respondeu Alfredo. Nunca vi isso antes. Discutir na minha presença e na vista de Ângela assuntos de namoros!… Afinal, onde querem chegar os moços de hoje? De que vale a educação que lhes dei em colégios de freiras? Calem-se todos e vamos terminar o almoço. Dr. Mário nunca foi noivo de Madalena pois nunca chegou a pedir sua mão. É verdade que esperávamos que isso acontecesse logo. Mas, hoje, anda tudo diferente. Os homens são sem caráter e não se acham em comprometer as moças… tudo errado… tudo errado.” (p. 146)
Outro fato interessante e digno de nota, no que concerne aos rígidos costumes familiares goianos que aparece no romance de Rosarita Fleury, é a questão da separação. Ernesto e Juliana viviam em constantes desavenças, o que insuflou na jovem esposa o desejo de voltar a conviver com os pais.
Envia uma carta ao genitor, pedindo para seguir viagem, e recebe uma resposta negativa, razão de seu desespero. Iniciando o discurso em 3a pessoa, a voz narrativa relata a decisão do desembargador Castro: “A letra do desembargador era vigorosa, decidida e ponderava que uma mulher casada devia sempre procurar viver sob o teto que o marido lhe dava. Proceder de outra forma era feio, vergonhoso e desonroso. Já se sentia velho. Havia sofrido muito na vida. Queria, no entanto, poder morrer sem levar para o outro mundo a humilhação de uma filha separada de seu marido. Isso não! Que Juliana se dominasse e controlasse, mas procurasse servir Ernesto a contento.” (p. 165)
Ciente de que a literatura, diferentemente da história, altera-se com ampla liberdade as noções dos acontecimentos, havendo com isso um compromisso com a invenção visando uma solução estética, a voz narrativa em Elos da mesma corrente explora narrativas em primeira pessoa, o monólogo interior, destaca a intimidade de personagens relevantes na trama, descreve o mundo doméstico goiano, esmiúça as situações corriqueiras, justapõe tempos diversos dentro do romance, há variedades de pontos de vista. Tem, portanto, todos os recursos de uma narrativa de ficção.
Vejamos um dos trechos poéticos do romance em que por meio de uma narrativa hipodiegética, Alfredo explica ao leitor todo o significado do título do livro: “A família é como uma corrente – falou, erguendo-as nas mãos. Uma porção de elos presos uns aos outros. Em todas as famílias esses elos deviam ser bem fortes, bem resistentes, bem rijos, de sorte a representar uma força capaz de se fazer respeitar e contra a qual ninguém pudesse abrir força e lutas. Assim é que devia ser. Muitas vezes, porém, acontece ser diferente. Os irmãos não se entendem, não se ajudam, tornam-se egoístas, e, só muito tarde, chegam a compreender o valor de uma família unida. Infelizmente é o que se vê quase sempre. Se a corrente é forte, nem um touro consegue parti-la. Mas se possui um elo fraco, um só, por pequeno que seja, fica a corrente inutilizada.” (p. 263)
É o que ocorre com o sugestivo título dado por Rosarita Fleury ao seu primeiro romance. Elos da mesma corrente evoca a união familiar em torno de um mesmo padrão de conduta. O grande desejo de Alfredo é a solidez dessa corrente sustentada por rígidos preceitos éticos e morais. O título ilustra e realça a narrativa pelos elementos que interligam seu significado em todo o transcorrer da trama.


Partindo de uma narrativa intercalada, como enfatizamos anteriormente, o romance de Rosarita Fleury possui episódios temáticos diversos que vão sendo organizados de maneira sistemática e “resolvidos” encaminhando para o desenlace. Em muitos relatos, percebemos uma narradora homodiegética, porque mesmo não sendo personagem, muitos dos conflitos relatados no romance foram vividos pela autora ou por seus familiares.
Por ser uma narrativa longa, observamos algumas catálises, plenamente dispensáveis, em excessivas descrições ou explicações desnecessárias. Há outros relatos, no entanto, plenos do vigor e do colorido de uma narrativa exuberante. Vejamos a cena em que a personagem Carolina encontra-se com Marcelo, ex-namorado de sua irmã Isabel, num consultório dentário. A voz narrativa, num discurso indireto livre, penetra nos mais recônditos e ardentes pensamentos dos personagens: “De repente, no silêncio da sala, sem que ninguém desejasse ou planejasse, nasceu aquilo. Veio, mais forte que tudo, aquela vontade de tocar, de apalpar nem que fosse com a pontinha dos dedos, a pele macia daquele pescoço… senti-la palpitante e calorente… vê-la ceder à pressão acariciante! Devia ser bom, ótimo até! Alisar os ombros o corpo todo… até as pernas! Que procurava visualizar roliças, quentes, fora da pressão das meias e borzequins. Por rápidos instantes, os pensamentos, em tumulto, rodopiaram na cabeça de Marcelo até transformar-lhe a fisionomia desfeita, tentava desviar o curso de seus pensamentos quando Carolina, voltando-se de chofre, colheu, em cheio, toda a expressão do desejo físico que o amigo procurava, às pressas, dissimular. Olhou rápido para outra parte qualquer. Um acanhamento como nunca sentira até então subia-lhe pelo pescoço em ondas quentes.” (p. 232)
A força do olhar fica evidenciada no trecho acima, pois “o olhar não é apenas agudo, ele é intenso, ardente. O olhar não é só clarividente, é também desejoso, apaixonado”, segundo Alfredo Bosi. Nesse olhar ardente dos personagens, a voz narrativa estabelece um novo conflito no romance: a paixão de Carolina pelo único amor que Isabel tivera na vida.
Narrativa longa, Elos da mesma corrente, como já dissemos, tem partes essencialmente descritivas. Usando muitas vezes o recurso da paralepse, a voz narrativa concentra ao mesmo tempo múltiplas informações sobre o interior do personagem em confronto com o exterior, em ricas descrições simbólicas. Vejamos o trecho: “Com as mãos trançadas por trás da nuca, Isabel descansava em sua gruta de pedra. A esteira de palha sobre o chão úmido protegia seu corpo da friagem. Era assim, no entanto que ela apreciava. Seus pensamentos pairavam distantes, na fogueira a se alastrar e arder do outro lado da serra azul. Afinal seu pai concordara em que deviam usar novas terras e resolvera queimar aquele pedaço de chão bruto e virgem (…) O ar se enchera de pedacinhos de carvão esvoaçante e leve que subiam da fogueira e ficavam dançando no alto ao sabor do vento.” (p. 168)
Há força histórica nos personagens de Elos da mesma corrente. Na denominação de Antonio Candido, há personagens de costumes com uma visão externa e personagens de natureza, numa visão interna e mais profunda, o que Forster alcunhou de planas e redondas e Ducrot & Todorov também chamaram de espessas e estáticas.
Sem sombra de dúvida, a personagem mais forte do romance de Rosarita Fleury é Isabel. Sua força reside na personalidade ireverente e orgulhosa, destacando-se pouco a pouco como líder em Santa Lúcia, assumindo responsabilidades que não eram comuns a uma moça em sua época. Vejamos, pelo discurso indireto livre, as considerações de Isabel sobre o seu destino: “Desde que se resolvera não se casar, dormia em quarto separado – quarto de solteirona! De moça solteira era sua cama estreita e sem enfeites. Sua mesa de toalete onde nenhum colar quebrava a frieza da madeira polida, onde nenhum brinco, nenhum colar punha brilho de faceirice e feminilidade. Era a solteirona fria a calculista Isabel Vilhem que dormia só, porque os sofrimentos não se repartem e suas noites dolorosas deviam permanecer ocultas a toda gente.” (p.435)
Outra personagem de natureza é Carolina. Sempre atuante, buliçosa e reivindicadora, quebra tabus e normas sociais, no primeiro trecho abaixo lutando pelo direito de sair sozinha à rua e no segundo trecho, visitando o noivo doente e entrando em seu quarto.
Eram costumes desaprovados pela sociedade moralista em relação à emancipação feminina. O primeiro trecho aparece na voz de Carolina e o segundo na visão austera de Alfredo: “Pois é. Só a senhora vendo a luta que a gente tinha em casa de Arabela para conseguir Pupi. Agora, não. Eu me visto ou vou saindo. Sei que muita gente me condena. Ficam me olhando pelas frestas das venezianas. Pensam que não enxergo. A modo não está bem apegada ainda, mas pouco me importo. Continuo forçando. Só tinha medo de papai. Uma vez que ele não pôs obstáculo, eu passeando, é quanto basta. As linguarudas podem me olhar pelo buraco que não me interessa.” (p. 270)
No desenlace da narrativa, Carolina cede ao destino, acabrunhada pela morte de Marcelo. Mas com o advento da notícia do fim do mundo, põe-se bela novamente na expectativa de encontrar o noivo na outra vida.
Num desabafo final, indagada por todos sobre atitude tão inesperada, explode: “Não quero que ele me veja feia. Ao contrário, desejo que me ache linda… bela… a mesma de antigamente. Por isto estou assim. Me fiz mais bonita e estou feliz, feliz e ansiosa pela morte!” (p. 450)
Os demais personagens são caracterizados como de costume, pois Alfredo vai perdendo sua austeridade com o passar dos anos, sufocado pela força de Isabel, Ernesto inicia a história como um revoltado e violento e assim permanece até o final, Juliana com todos os seus acessos de loucura, acaba cometendo suicídio, Ângela, sempre fraca e subserviente, morre de desgosto pelo suicídio da nora e pelo seu enterro fora do cemitério católico, o que era uma humilhação para a família. Vejamos a voz narrativa a comentar o ocorrido: “Era o sétimo dia da morte de Juliana e, uma vez que padre Henriques se recusara, formalmente, a lhe rezar a missa pela salvação da alma, aquele passou a ser um sétimo dia mais triste e tremendamente humilhante. Após a missa, tomaram café foram ao cemitério para a primeira visita ao corpo de Juliana, sepultado do lado de fora dos muros, lugar reservado aos pagãos, galés e suicidas. Aquilo era outra humilhação imposta à família: mas aquele costume era lei da cidade e, perante a lei, todos somos iguais.” (p. 304)
A narradora no último e longo capítulo do romance, vale-se da anisocronia, abreviando em poucas linhas o que ocorre em quatro anos: “Quatro anos haviam decorrido desde o dia em que Isabel levara Lavínia à cidade e de onde ela seguira para Uberaba em companhia de Ernesto e da pretinha Ermelinda. Quatro longos e pachorrentos anos de meses iguais, dias longos e horas insípidas.” (p. 397)
Com mais de cinquenta páginas, esse capítulo contém o clímax e o desenlace do romance, mostrando as cenas comoventes da notícia do fim do mundo, as considerações, temores, pavores, elucubrações e culpas de cada personagem a partir da aproximação da morte.
Destaca-se novamente Isabel que depois, já na última página passado o pesadelo do provável fim do mundo, no seu domínio que era Santa Lúcia, observando o cotidiano da fazenda e sua vida, concluiu ser ali o seu destino irremediável e solitário até o fim de seus dias. Vejamos a narrativa: “Podíamos dar um pulinho até Uberaba. Sei que Lavínia ficaria radiante! Não, pai, meu lugar é aqui. Sinto falta dela. Muita falta, mesmo. Mas de qualquer forma, só ou rodeada de parentes, aqui hei de viver, aqui hei de acabar os meus dias!…” (p. 452)
A romancista Rosarita Fleury, com seu primeiro romance, estava ciente de que fazia história e tinha, portanto, cuidado com a memória de sua terra e as tradições de sua gente. E fez, pelo sentimento, uma inesquecível narrativa.
Como precursora do romance feminino em Goiás, Rosarita Fleury abriu caminho para outras romancistas como Ada Curado, Edla Pacheco e Armênia de Souza. Em seu segundo romance, Sombras em marcha, Rosarita Fleury envereda-se novamente pela história em longas pesquisas no Estado de Mato Grosso para recriar, com fidelidade, o ambiente de Corumbá e o percurso até a Cidade de Goiás, caminho por meio do qual seus personagens fogem da truculência dos paraguaios.
Há diferenças de posicionamento da escritora no direcionamento da trama em seus romances. Em Elos da mesma corrente, Rosarita Fleury buscou ocultar acontecimentos sob alcunhas diferentes para pessoas, lugares e situações – o que, porém, não a poupou de reconhecimentos de pessoas de Goiás e da família em situações embaraçosas – e no segundo, a autora faz justamente o contrário: alinha situações puramente ficcionais com acontecimentos ocorridos e com personagens históricos, principalmente os relacionados com a Guerra do Paraguai.
O pioneirismo de Rosarita Fleury esteve, portanto, na publicação do primeiro romance de autoria feminina no Estado de Goiás e pelo fato de ser a primeira mulher goiana premiada pela Academia Brasileira de Letras, fazendo-a também a primeira que recebeu reconhecimento nacional, o que só viria acontecer quase trinta anos depois, quando em l983 Cora Coralina recebeu em São Paulo o troféu Juca Pato.
Nesse romance, Rosarita Fleury aborda passagens importantes no espaço goiano: os rearranjos territoriais, a luta pela manutenção do poder na mão dos coronéis, a falta de oportunidades políticas e de abertura social, os preconceitos do tempo, a restrição do cenário urbano de Vila Boa de Goiás, assim como a estrutura agrária goiana, por meio das atividades do feudo que era a Fazenda Santa Lúcia na Cidade de Goiás.
“E quanto à vida de pândegas do marido, Antonio do Amaral, em Uberaba a opinião geral era que mulher sensata era aquela que se mantinha em sua dignidade e que aguentasse tudo, porque no futuro o marido, cansado e velho, seria, enfim, somente dela.”
“Era a velha visão brasileira do século XIX de que, cedo, a mulher deveria estar preparada para o matrimônio, razão de casamentos aos 12, 13 e 14 anos. Sendo Isabel uma matrona de já 24 anos, estava realmente, dentro dos costumes da época, moça velha, uma quase beata. Os casamentos eram geralmente arranjados e comprometidos pelos pais; da parte dos filhos deveria apenas haver obediência e silêncio em relação a tais assuntos.”
(Bento Alves Araujo Jayme Fleury Curado, graduado em Letras e Linguística pela UFG, mestre em Literatura pela UFG, mestre em Geografia pela UFG, doutorando em Geografia pela UFG, professor e poeta – [email protected])