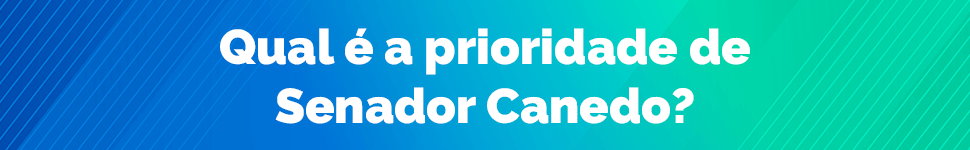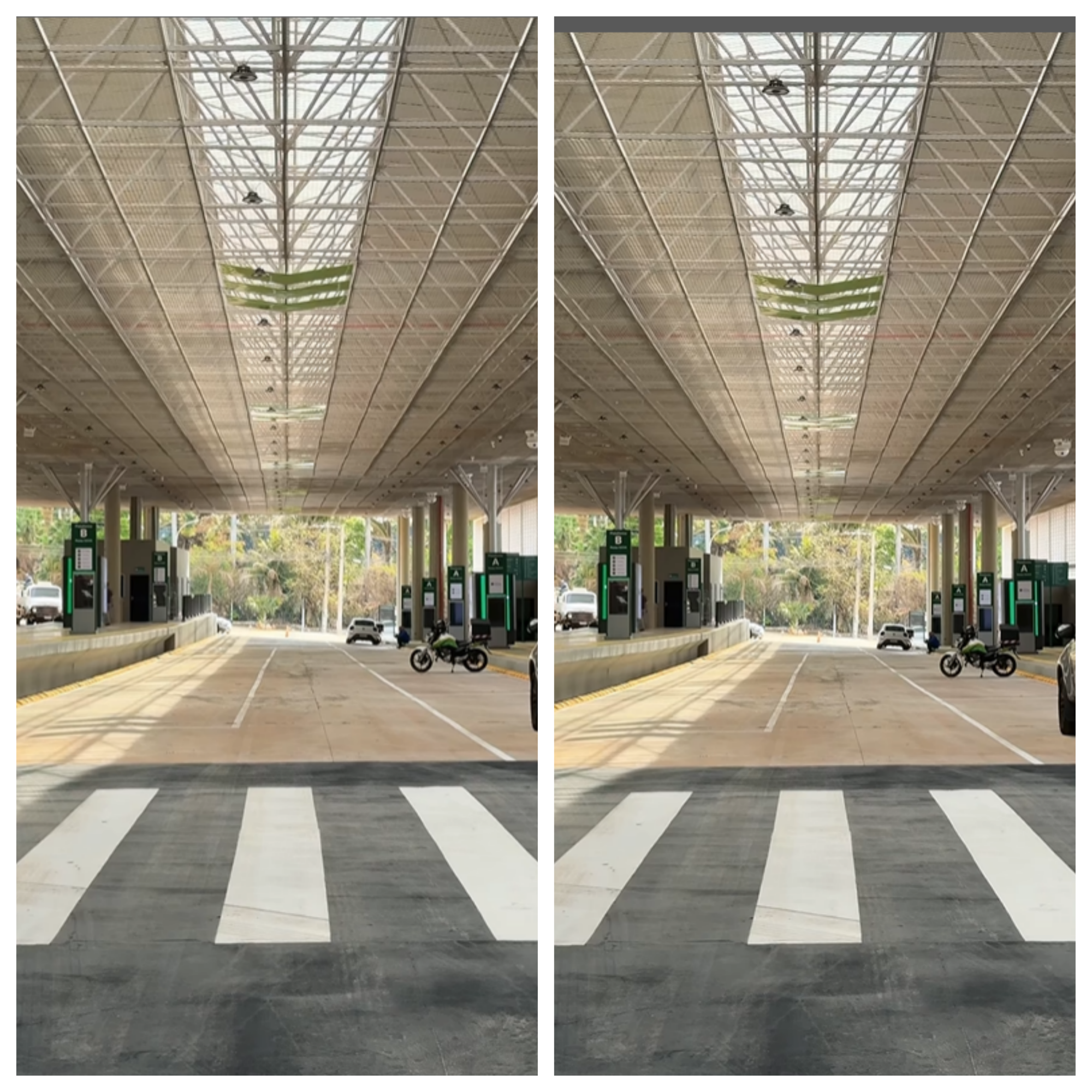Nossa história na tela grande
Redação DM
Publicado em 7 de dezembro de 2021 às 14:09 | Atualizado há 4 anos
Tempestade à vista, o clima fechou-se. Vencedor do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro com “Bandido da Luz Vermelha” em 1968, Rogério Sganzerla desfere sopapos ao crítico de cinema Rubens Ewald Filho. Na piscina do Hotel Nacional, num calor de rachar bem comum ao Cerrado brasileiro, Sganzerla engalfinha-se com o jornalista por causa das impressões pessimistas, ou quase desrespeitosas, a respeito de “A Mulher de Todos”, filme que estava na mostra competitiva de longas-metragens da edição daquele tortuoso ano de 1969, no qual censores invadiram a sala de produção, Helena Ignez e Leila Diniz marcaram presença e Grande Otelo interpretou Macunaíma.
Foi uma festa e tanta. “Possivelmente estávamos nos beijando quando saiu o resultado”, disse Helena, num tom provocante e transgressor, como era o espírito do Cinema Novo e Marginal. Nas telas, ela vivia a sensual e feminista Ângela Carne e Osso. “Era a primeira personagem feminista do cinema e lembro, no festival, do Rogério ser atacado pela crítica, com insinuações grosseiras de como ele estava me explorando como sexy, num sentido que poderia ser até pornô”, recordou-se a atriz, no ano passado, ao ser questionada sobre o episódio da treta entre Sganzerla e Rubens.
Idealizado em 1965 pelo crítico Paulo Emílio Salles Gomes, à época professor da recém-criada Universidade Nacional de Brasília (UNB), o festival aproveitou o boom do Cinema Novo, cuja preocupação de nomes como Joaquim Pedro de Andrade e Glauber Rocha era trazer a realidade do povo brasileiro à tela grande. E sempre, nas palavras do próprio Glauber, “com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça”: preocupação comercial, ou enredo hollywoodiano, sai pra lá, nada disso fazia a cabeça da turma.
O Festival de Brasília, com o passar dos anos, ganhou forma e se tornara fundamental no calendário do audiovisual brasileiro. Nele, por exemplo, foram exibidos filmes celebrados, a exemplo de “O Bandido da Luz Vermelha”, de Rogério Sganzerla, além de “Tabu”, dirigido por Julio Bressane e, mais recentemente, “Cleópatra”, também de Bressane, bem como “Amarelo Manga”, de Cláudio Assis. A censura, implacável durante os chamados anos de chumbo, cancelou três edições do festival nos anos 1970, que nunca afastou de si a incumbência de trazer a política para o cinema.
Em 2021, num Brasil comandado por saudosos dos anos em que os militares implantaram o obscurantismo como política de estado, o festival preserva sua verve política na abertura nesta terça-feira, 7, com o documentário “Já Que Ninguém Me Tira Pra Dançar”, de Ana Maria Magalhães. Como se fosse uma carta, o longa recorda a postura corajosa da atriz Leila Diniz, à frente do seu tempo, além da persona cativante e profissional talentosa que atuou na comédia “Todas as Mulheres do Mundo”, de Domingos de Oliveira”, e “Fome de Amor”, de Nelson Pereira dos Santos.
Realizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec) em parceria com a Associação Amigos do Futuro até o dia 14 de dezembro de 2021, o Festival exibe seus títulos virtualmente, com exibição no Canal Brasil e no streaming InnSaei.tv, como foi no ano passado, em função dos riscos da pandemia de covid-19. Neste ano, o tema central será “O cinema do futuro e o futuro do cinema” e terá a maratona de filmes, debates, masterclasses, oficinas, encontros setoriais e ambiente de mercado, com a curadoria dos cineastas Sílvio Tendler e Tânia Montoro.
Para o secretário Bartolomeu Rodrigues, o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro sempre, em sua natureza, foi um espaço para o diálogo com o que está por vir. “Daqui, nasceram linguagens, estéticas e debates políticos que construíram a identidade do novo cinema brasileiro. Essa edição nasce histórica porque vai pautar esse mundo pós-pandemia. Nada será como antes, e essas tendências serão examinadas nos dias de festival”, pontua.
Cinema goiano
Pela primeira vez, em 53 edições, o cinema goiano aparece na mostra competitiva de longas-metragens. Numa sobreposição imagética em um preto e branco que realça a poética do povo Iny, a cineasta goiana Rochane Torres, autora de filmes como “A Filha do Xingu” (2018), “Aquelas Ondas” (2017)”, Silêncio Não Se Escuta” (2018) e “Morte na Madrugada” (2015), registrou os sentidos e tensões entre o resgate das tradições dos povos originários e como a cultura do homem branco foi incorporada pelas étnicas indígenas. É um filme urgente que, situado no Brasil contemporâneo de saudosos da farda setentista, precisa ser problematizado.
“Participar do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro é de uma importância muito grande para mim. Acho que todo cineasta gostaria de ter uma passagem por esse festival que conta a história do Brasil. É um festival que fez história e faz história no Brasil. Então, estar nele é uma honra: estou muito feliz de participar neste ano, que inclusive trata, como temática, do futuro do cinema e o cinema do futuro”, afirma Rocha, em entrevista ao Diário da Manhã, concebida no início da noite de ontem.
Rochane conta que escolher que o filme fosse montado em preto e branco partiu de um conceito poético que foi sendo descoberto no decorrer do processo. Segundo ela, para falar das questões que o longa se propunha e da ficcionalização do real, veio-lhe a conclusão que ele deveria ser em todo pb. “O colorido é o real, a gente enxerga assim. Agora, o preto é aquilo que a gente tem como imagem fotográfica, como imagem dos contrastes, aquilo que a gente tem como fronteira entre o real e o ficcional. A partir, achei que o filme deveria ser feito todo em preto e branco”, justifica-se.