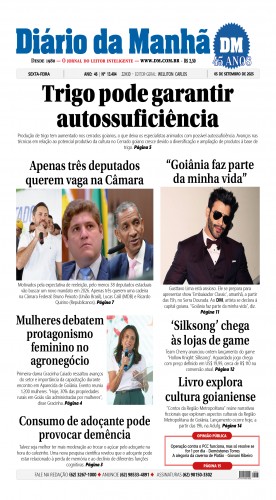DIWAN, Pietra. Eugenia, a biologia como farsa
Redação DM
Publicado em 21 de abril de 2016 às 01:38 | Atualizado há 8 meses
Professor da rede particular de ensino e cocriador do Crimideia – vídeoaulas (YouTube). Graduado em História e Filosofia, especialista em História Cultural e mestrando em História das Identidades e Fronteiras Interculturais. Autor dos livros: “A destruição do Leviatã: critica anarquista ao Estado” (2014); “Escritos sobre a imprensa operária da Primeira República” (2013);“Educação e anarquismo: uma perspectiva libertária (2012)”.
De acordo com o filósofo Michel Foucault (França, 1926 – 1984), “cada sociedade tem seu regime de verdade (…) isto é, os tipos de discursos que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros” (FOUCAULT, 1979, p.12). Assim, os mecanismos e as instâncias que permitem separar o verdadeiro do falso e a formalização do estatuto daquilo que se convenciona que é “bom” e “ruim” em determinado tempo cria uma relação que nos permite afirmar que “saber é poder”.
A partir do pressuposto acima, podemos indagar ao leitor: de onde surge os racismos populares? Como as formas de saber do ocidente tratou o tema no momento de afirmação das ciências como estatuto da verdade no século XIX? No Brasil, como foi a receptividade nas teorias cientificas, na literatura e na intelectualidade geral?
Compreender a historicidade dos conceitos e seu tempo semântico se tornam fundamentais para estudá-los. Assim, o racismo será tratado aqui não apenas como produto de relações econômicas, mas, tratado nas relações de mentalidade de um período. Por exemplo, o conceito “raça” teria sido produzido por autores das ciências naturais para classificar espécies de animais e vegetais. Etimologicamente, explica o antropólogo Kabengele Munanga, o conceito veio do italiano “razza” que significa no latim “ratio” (sorte, categoria). Ao ser introduzida aos seres humanos, o termo foi utilizado no sentido de referenciar a ideia de “pureza” e “superioridade” classificando os aspectos externos da “raça” para a classificar hierarquicamente os indivíduos, a tal ponto de chegar a procura de eventuais criminosos, dando um determinismo biológico aos problemas sociais. Sendo assim, fenótipo justificaria questões sociais.
Poderia assim, definir o racismo como um “conjunto teórico que se estabelece como crença prática de que existem raças humanas e ao mesmo tempo fundada na ideia de superioridade de algumas em detrimento de outras. Tal pressuposto filosófico se aplica com o estereótipo étnico, no preconceito racial e na discriminação social”.
As escolas do pensamento racial
A classificação de raças introduzidas aos seres humanos começa com Carl Nilsson Linnæus, popularmente conhecido no Brasil como Lineu (1707 – 1778, naturalista sueco). Pressupondo o grau de hierarquia social e biológica entre os seres humanos, ele criou um sistema de classificação incluindo as seguintes raças: 1) Americano, que o próprio classificador descreve como moreno, colérico, cabeçudo, amante da liberdade, governado pelo hábito, tem corpo pintado. 2) Asiático: amarelo, melancólico, governado pela opinião e pelos preconceitos, usa roupas largas. 3) Africano: negro, flegmático, astucioso, preguiçoso, negligente, governado pela vontade de seus chefes (despotismo), unta o corpo com óleo ou gordura, sua mulher tem vulva pendente e quando amamenta seus seios se tornam moles e alongados; 4) Europeu: branco, sanguíneo, musculoso, engenhoso, inventivo, governado pelas leis, usa roupas apertados.
O século XIX, ao importar tais teorias naturalistas, introduziram e potencializaram tais teses com outras nuanças. Vejamos.
Em meados do século, por exemplo, renomados cientistas estadunidenses e europeus introduziram explicações de “cunho científico” criando a escola etnológico-biológica, que apresentava a tese de que a suposta inferioridade negra e índia estava determinada pela formação físico-morfológica diferente dos brancos. Nesse rol de cientistas, aparece o suíço Louis Agassiz criando o determinismo geográfico que apresentava as diferenças climáticas e espaciais que criaria o ambiente propício ao regresso ou ao progresso.
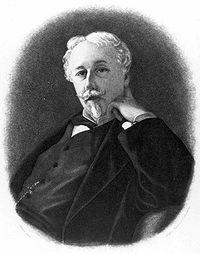

Ainda no XIX, como aponta a professora Lilian Schwarcz, (1993, p. 80), foi-se introduzindo após a publicação de “
Sobre a Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural ou a Preservação de Raças Favorecidas na Luta pela Vida” conhecida como “A Origem das Espécies” de Charles Darwin, o chamado “darwinismo social”.De acordo com Pietra Diwan, as “teses de Darwin logo são transportadas para outros campos do conhecimento em uma tentativa de explicar o comportamento humano em sociedade”.
Pressupondo a aplicação das teses de Darwin aos seres humanos da sobrevivência dos mais aptos, autores como Nina Rodrigues, Oliveira Viana e Azevedo Amaral construíram teses no Brasil sobre as possíveis características das “raças inferiores”, que acabou culminando em 1923 na Sociedade Brasileira de Higiene Mental do Rio de Janeiro que utilizava programas de prevenção eugênica.
O caso Lobato e o racismo
O caso dos intelectuais nesse rol de pensamento racial também é alarmante fora das ciências. No campo da literatura, por exemplo, Monteiro Lobato se mostra adepto de tais teses ao declarar em carta a Arthur Neiva de 10 de abril de 1928 que o Brasil era País de mestiços, onde branco não tem força para organizar uma Kux-Klan (sic), é país perdido para altos destinos. […] Um dia se fará justiça ao Ku-Klux-Klan; tivéssemos aí uma defesa desta ordem, que mantém o negro em seu lugar, e estaríamos hoje livres da peste da imprensa carioca — mulatinho fazendo jogo do galego, e sempre demolidor porque a mestiçagem do negro destrói a capacidade construtiva”.
Em outra ocasião, explicando os motivos de que o romance “O Choque das Raças ou O Presidente Negro” não havia sido publicado nos Estados Unidos, Lobato escreve a Godofredo Rangel, o seguinte texto: “Meu romance não encontra editor. […]. Acham-no ofensivo à dignidade americana. […] Errei vindo cá tão verde. Devia ter vindo no tempo em que eles linchavam os negros” (LOBATO, 1948, p. 304). Ainda podemos citar seus personagens que nas obras originais carregavam palavras e expressões como “negra beiçuda”, “preta só por fora”, ou, por exemplo, no livro “Caçadas de Pedrinho” “Não vai escapar ninguém, nem tia Nastácia, que tem carne preta”.
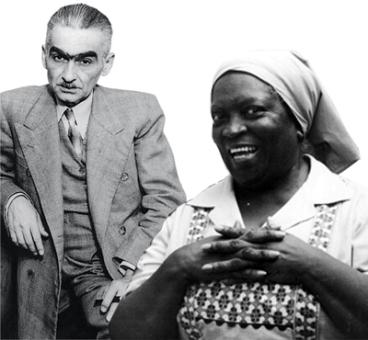
Na obra “. Viagem ao céu e O sacy” a cultura negra é tratada de modo etnocentrico. Vejamos: “Pois saci, Pedrinho, é uma coisa que branco da cidade nega, diz que não há – mas há. Não existe negro velho por aí, desses que nascem e morrem no meio do mato, que não jure ter visto saci. Nunca vi nenhum, mas sei quem viu. – Quem ? – O tio Barnabé. Fale com ele . Negro sabido está ali ! Entende de todas as feitiçarias , e de saci , de mula-sem cabeça, de lobisomen – de tudo” (LOBATO, 1957, p.183).
Desarte, é necessário fazermos algumas observações: 1) a literatura pode estabelecer uma relação direta mediativa entre o eu-lírico fictício e a efetividade da vida do leitor, tais como suas angústias e aspirações. 2) a literatura não pode ser percebida como mera representação de uma narrativa histórica, já que seus jogos construtivos podem fornecer um arquétipo cultural de um povo e ao mesmo tempo criticá-lo. Portanto, 3) a trajetória do autor e seus personagens são fundamentais de serem acompanhados como pressuposto de uma análise do discurso para compreender as nuancas dos pensamentos sociais da obra e de seu autor.
No campo jurídico as questões também são preocupantes. Em decreto de 1890, encontra-se empecilhos para a entrada de africanos e asiáticos no Brasil. No texto se encontra “Excluídos os chineses, começaram os defensores da branquidade, da europeidade de nossa gente, a opor-se à entrada de negros e amarelos”. Ainda assim, tal pensamento perdura por algumas décadas: em Decreto-lei nº 7.967/1945 a política imigratória se dispôs que o ingresso de imigrantes dar-se-ia tendo em vista “a necessidade de preservar e desenvolver, na composição étnica da população, as características mais convenientes da sua ascendência europeia.” (Artigo 2º).
Inspirados na Antropologia Criminal do italiano Césare Lombroso, a técnica da antropometria e a craniometria permitia determinar o criminoso antes de cometer o crime, reconhecendo que os elementos morfológicos (fenótipos) determinariam antecipadamente o crime no qual o indivíduo cometeria. Tal técnica fora utilizada em escolas de São Paulo na procura de prováveis criminosos.
Assim, as teses “científicas” (paradigmas considerados científicos), se implementaram na sociedade e se arraigaram como um pressuposto cultural na sociedade brasileira pós-abolição. Inclusive as teses difundidas após 1888 se constituíram numa suposta sociedade miscigenada apaziguando as relações de conflito de sociedades.
De modo analítico, o livro “Pele Negra, Máscaras Brancas” de Frantz Fanon publicada em 1952, ressalta a forma que as “democracias raciais” conseguem velar, justificar e naturalizar as formas de dominação racial nas sociedades francófanas, lusofanas e hispânicas, principalmente no que tange as formas jurídicas de exclusão social dos povos negros. Para tal exclusão foi-se necessária uma introdução de elementos educacionais de inferioridade cultural dos povos afrodescendentes. Para o autor, o racismo alia-se às barreiras econômicas como forma de garantir os privilégios das elites brancas, também funcionando como proteção aos brancos pobres, impedindo-os de decaírem ainda mais na pirâmide social (FANON, 2008. p. 87).
Resta-nos dizer que para combater os racismos incutidos na cultura nacional, faz-se primeiro reconhecer que o poder produz saber e que não há relação de poder sem constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não suponha e não constitua ao mesmo tempo relações de poder, como afirmou Michel Foucualt (2010, p.30).
Referências Bibliográficas
História Viva. Disponível em: www2.uol.com.br/historiaviva/reportagens/eugenia_a_biologia_como_farsa.html.
FANON, Frantz.
Pele negra, máscaras brancas. Bahia: Editora Edufba, 2008.
FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979.
FOUCAULT, Michel.
A ordem do discurso. São Paulo: Editora Loyola, 2010.FOUCAULT, Michel.
Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010.
LOBATO, Monteiro. Viagem ao céu e O sacy. São Paulo: Editora Brasiliense, 1957.
LOBATO, Monteiro. A Barca de Gleyre, vol II. São Paulo: Editora Brasiliense, 1948.
MUNANGA, Kabengele. Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia. In:
Inclusão Social: um debate necessário?Disponível em: https://www.ufmg.br/inclusaosocial/?p=59.
MUNANGA, Kabengele .Negritude: Usos e Sentidos, 2ª ed. São Paulo: Ática, 1988.
MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil: Identidade nacional Versus Identidade Negra.
Petrópolis: Editora Vozes, 1999.
SCHWARCZ, Lilia Moritz; QUEIROZ, Renato da Silva (orgs.)
Raça e Diversidade. São Paulo: Edusp/Estação Ciência, 1996.