2018 é 68?
Redação DM
Publicado em 11 de outubro de 2018 às 04:06 | Atualizado há 8 meses
Uma pergunta tem de ser feita: o aniversário de 50 anos do mítico ano de 1968 foi uma espécie de saudosismo ou a semente para o futuro? É o que queríamos ver em 2018, especialmente no mês de maio, mas o que assistimos–pelo aqui no Brasil, atenho-me a falar–foi a escalada do fascismo. Afinal, 68 é como o filho rebelde que pula o muro da escola para fumar um cigarro escondido das pedagogas que irão reprimi-lo.
Waiting for the sun, da banda californiana The Doors, tocava no rádio. O jornalismo gonzo de Hunter Thompson despontava com o clássico livro-reportagem fora da lei, Hell´s Angels. O jornalismo em fluxo de consciência do estadunidense Tom Wolfe virava bíblia para os profissionais rebeldes da imprensa. A sociologia marxista e freudiana do alemão Herbert Marcuse fazia a cabeça dos estudantes universitários. A psicanálise de Wilhelm Reich, perseguido pelas academias em que lencionara durante a vida, pregava que se a energia sexual não fosse liberada o fascismo poderia despontar.
Antes disso, todavia, muita coisa já estava acontecendo no âmbito social, cultural e político. Aliás, na literatura, a geração beat questionava o status quo na década de 50, com clássicos como On The Road e Uivo e Outros Poemas, de Jack Kerouac e Allen Ginsberg, lançados em 1958 e 1956, respectivamente. 68, para parafrasear o jornalista Zuenir Ventura, autor da clássica obra 1968 – ano que não acabou e 1968–o que fizemos de nós, estava fervilhando bem antes de 68.
No Brasil, por exemplo, o movimento estudantil estava se articulando nos anos anteriores, mas a fagulha viria a encontrar o caos em 1968 com a morte do estudante secundarista Edson Luís Souto, no Rio de Janeiro. Isso sem contar o campo de guerra instaurado entre alunos da Mackenzie, historicamente reacionária e conservadora, contra a alunos da USP, historicamente atrelada às lutas políticas e sociais. A batalha entre as instituições ficara conhecida como “guerra da Maria Antonieta”, em São Paulo.
A música popular brasileira também vivera seus momentos de esplendor na década de 60. Caetano Veloso interpretou o clássico Alegria, Alegria, e Gilberto Gil, Domingo no Parque, no festival da canção, em 1967. Era o prenúncio do movimento cultural Tropicália, que ganharia reconhecimento em 1968, e englobava artistas do cinema, do teatro e, principalmente, da música.
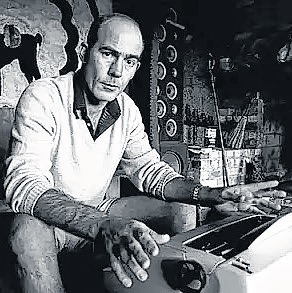
1968 é como uma criança pródiga. Uma criança que consegue dimensionar o sonho em sua cabeça, mas é incapaz de pô-lo em prática. 1968, citando o jornalista Luiz Zanin Oricchio, é ano da “Revolução que não aconteceu”. Mas que, mesmo não acontecendo, mudara os rumos da rebeldia juvenil para sempre.
O legado de 68, décadas depois, pôde ser sentido na alma dos estudantes universitários e secundaristas no episódio que se convencionou a chamar de “Primavera estudantil”, que aconteceu entre os meses de outubro e novembro de 2016. Esses episódios já fazem dois anos. Dois anos que o sonho fracassou, mas que valeu. E continua valendo, ao menos para mim, o sentimento de que todos estão terrivelmente descontentes com a ascensão do autoritarismo, que está sendo imposto por viúvos dos milicos, amigos da indústria armamentista e da decadentes sem elegância, mas que deseja institucionalizar a barbárie.
1968, para mim, um mero jornalista bêbado, sonhador, apaixonado e palhaço, é a semente que foi plantada, mas que nasceria em gerações posteriores. E que sem dúvida, se não nasceu totalmente, ao menos começara a engatinhar.
1968, assim como os tempos atuais, também começou com uma instabilidade política, e culminou em múltiplas formas de revolta, de caos, de desordem e de protesto.
1968 é o hoje.
1968 é o futuro de todos os revolucionários.
1968 é o teclado de meu computador e o livro que estou preparando para lançar.
1968 somos todos nós, eu, você e o amor.
2018, porém, vem sendo a difusão do ódio, da violência, da intolerância.







