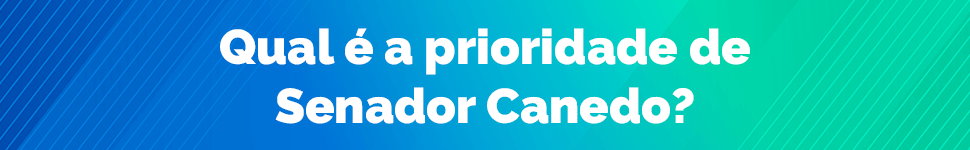Descanse em paz
Redação DM
Publicado em 3 de janeiro de 2018 às 22:55 | Atualizado há 8 anos
Imerso num oceano de reflexões e lembranças, convulsionado por sentimentos doloridos, trazem-me as suas ondas imagens que ainda hoje estão gravadas na minh’alma. Recordo-me, ainda, do meu amigo Ricardo, da sua esposa, do seu filho. Carlos, era o seu nome. Tinha apenas sete anos de idade, seus olhinhos negros, vivos, refletiam o fulgor da vida e da inocência. Seu sorriso largo demonstrava a todos a satisfação em viver, e de conhecer as coisas da vida. Era tão conformado com a modesta vida que tinha, que na sua simplicidade de criança brincava na pequena sala da sua casa, com latas vazias e caixinhas de papelão, sempre puxadas por um cordão, fazendo de conta que eram carros de brinquedo para ele comprados, e raras vezes, com a sua voz rouca e infantil, pedia ao pai um carrinho de madeira para puxar. O tempo passou. Carlinhos já contava dez anos, e a vida de Ricardo havia se transformado de tal modo que inconsciente, imune às realidades da vida, atraído e acorrentado pelas luxúrias da vida, pela vaidade, pelos vícios, trilhava outro caminho diferente, que logo mais tarde o haveria de levar à derrota final, à triste derrota.
Hoje, ébrio e só, sentado numa mesa suja de um bar de subúrbio, retira do bolso, já amarelada pelo passar do tempo, uma carta, a carta que o deu a mais trágica das notícias, a carta que abriu, tardiamente, os seus olhos para a verdade, para a vida, para as coisas boas de Deus. Tombou, fortemente, sob o peso insuportável de sua irresponsabilidade. Lembro-me, muito bem, de quando abandonou seu lar para, em companhia de outra mulher, procurar em vãs exterioridades as coisas banais, efêmeras e mentirosas da vida. Lembro-me, também. Foi numa noite de Natal que meu amigo Ricardo saiu de casa para nunca mais voltar. O tempo continuou a passar célere e impiedoso. Recordo-me, mais que nunca, quando a força do destino bateu à sua porta pela mão de um mensageiro que entregou-lhe uma carta, carta que mal conseguiu ler toda, porque os seus olhos estavam embaciados. Conteve-se em um dos trechos mal traçados, demostrando desespero e o sofrimento de quem o havia escrito, e assim dizia, em certa altura do seu texto: “Durante todo esse tempo de tua ausência, Carlinhos passou a ser um menino triste… sempre te espera todas as noites para ver o brinquedo que lhe prometeste, mas que nunca o deste… e adormece acalentando, mais uma vez, uma triste desilusão… agora ele teve que ser levado a um hospital, e lá, antes de deixá-lo internado, nosso filho perguntou muitas vezes por você, e pediu que lhe enviasse junto a esta carta, um bilhete para você”… – Pai, sempre pensei que quando crescesse queria ser igual ao senhor, mas infelizmente não pode ser. O senhor, meu pai, não sabe o quanto sofremos quando anoitece e o senhor não vem para casa. Olhe pai, nunca me importei que o senhor chutasse meus brinquedos, pisasse neles, que os quebrasse jogando-os contra a parede, que batesse furioso em mim e em minha mãe, sem motivo nenhum, quando ela perguntava: – Por que não fica em casa e para de beber? Pai, nunca me envergonhei de usar roupas velhas, sapatos furados e nem me incomodava com o pouco alimento que eu comia. Nada disso tem importância se o senhor estivesse em casa com a gente. Eu queria apenas tê-lo aqui para todas as noites pedir a sua bênção, antes de dormir. Pai, nós precisamos de você. Lembra daquela tarde, um dia antes do senhor ir embora e não voltar mais? Senti muita pena do senhor em vê-lo deitado na calçada, meus colegas que passavam atiraram pedras em você. Pedi que eles não fizessem aquilo porque você era meu pai, quando eles responderam que eu devia ter vergonha de chamar um “pau d’água” de pai. Baixei a cabeça humilhado, mas não envergonhado de você pai, e os meus olhos se encheram de lágrimas e de choro, e os garotos foram embora dizendo: – Deixa aí este bêbado sem vergonha, pode ser que um carro passe por cima dele e o mate. Pai!, foi duro ouvir aquilo, mas nunca me envergonhei do senhor. Não se envergonhe de nós, nós iremos recebê-lo bem, volte pai, volte para casa. Carlinhos…
Depois foi a viagem de volta para casa, e para o encontro com a fatalidade que ele mesmo havia procurado. O ônibus deslizava velozmente sobre a pista que parecia não ter mais fim. Tudo em redor era vácuo, saudades, arrependimento, peso na consciência. Finalmente apareceram as primeiras luzes da cidade onde o meu amigo Ricardo deveria ficar. Por incrível coincidência do destino era, também, uma noite de Natal igual àquela infeliz noite de sua partida. Desceu e saiu quase que correndo pelas ruas da cidade, dando encontrões nos transeuntes alegres que iam e vinham em todas as direções. De repente ele estava diante do gigante branco de cimento armado. Um frio anavalhante gelou-lhe o sangue nas veias, e o som agudo da cirene de uma ambulância cortou os ares passando, por ele, tal qual o grito de uma ave noturna e agoureira. Chegou à grande porta de entrada do hospital. Era ali, pelo endereço, que estava o seu filho, seu único filho. Subiu apressadamente a escadaria que levava a um longo corredor, quando um forte cheiro de éter penetrou em suas narinas. Olhando as portas do imenso corredor branco, parou diante da de número oito. Passou o pequeno pacote que trazia, da mão direita para a mão esquerda, e abriu silenciosamente a porta. Entrou… – Carlinhos! meu filho, disse ele, trago o presente que você sempre me pediu. Tome… é seu. Um silêncio estarrecedor doeu-lhe os tímpanos. Tome meu filho, insistiu. Abra, é seu… veja, é o carrinho que você sempre quis.
Seus bracinhos, finos, estavam estendidos ao longo do corpo. Os seus lábios pálidos e calados. Seus olhinhos continuavam semicerrados fitando o nada, e não tinham mais o fulgor de outrora. Apenas duas lágrimas que rolaram e que continuavam no seu rosto infantil. Os cabelos loirinhos e finos caiam-lhe sobre a testa. As mãos nervosas, de Ricardo, procuraram as mãozinhas do seu filho. Estavam rígidas. Seus lábios trêmulos beijaram-lhe a fronte. Estava gelada. Então, sua voz prendeu-se na garganta, e com dificuldade extrema conseguiu balbuciar: – Carlinhos, meu filho… é o papai. Não respondeu. Nunca mais poderia responder. Pela primeira vez aqueles bracinhos não movem para se atirarem ao seu pescoço. Pela primeira vez suas palavras ficam sem resposta e sem atenção. Seu filho já não vivia mais… Tudo havia terminado. Seu mundo tinha desabado. E ele o abraçou num último abraço, com o coração já estraçalhado pela dor que lhe feria. As suas forças, as suas energias, a sua coragem, tudo se abateu de repente. E para purgar os seus pecados, estava agora condenado, para o resto da vida, a carregar consigo a mais dolorosa das cruzes. E subidas do fundo do seu coração, vieram-lhe à boca, e aos prantos, as únicas palavras: – Não, não pode ser!… Oh! Deus! perdoa-me. Tende piedade deste pecador…
Este drama foi extraído dos fragmentos de um diário dos restos de memórias inacabadas, encontrado no bolso de um homem atropelado e morto, numa noite de Natal, exatamente um ano após a morte de seu filho. Uma noite santa, mas as pessoas passavam indiferentes à tragédia. Um carro atropelou um homem causando-lhe a morte. Um corpo maltrapilho suja de sangue rubro o asfalto negro. Alguém mais piedoso, traz uma folha de jornal e cobre o corpo para que não fique à mostra o rosto horrivelmente desfigurado daquele homem infeliz. Horas após ao trágico acontecimento chega no local um carro funerário da polícia, levando o corpo inerte. No dia seguinte, aquela infeliz criatura desce à sepultura na qualidade de indigente. Não tinha endereço. Não tinha parentes. Não tinha família. Ninguém acompanhou o cortejo fúnebre. Depois vim a saber que apenas um simples coveiro, num gesto de comovedora caridade e piedade cristãs, cravou na terra fria, dois pedaços de madeira, em forma de cruz, com as palavras: descanse em paz.
(Edmilson Alberto, escritor)