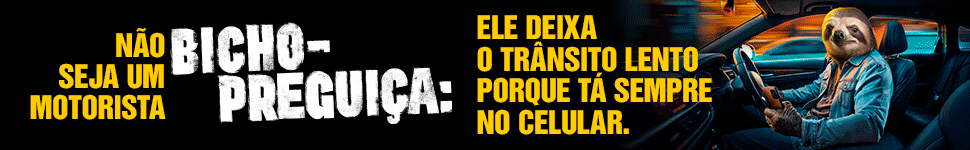Pós-verdade ou mentira contemporânea
Diário da Manhã
Publicado em 16 de janeiro de 2018 às 22:19 | Atualizado há 7 anos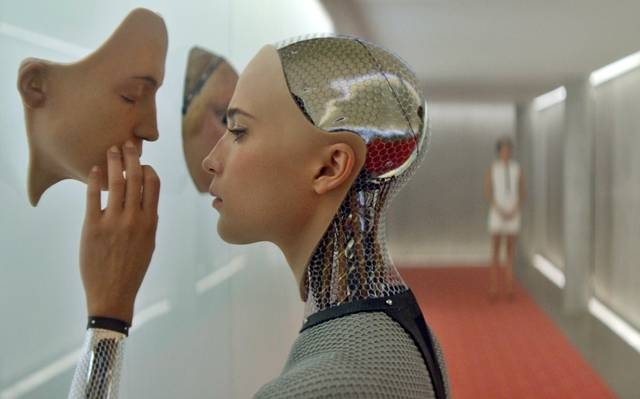
Há alguns anos, em Bruxelas, Bélgica, eu ouvia atentamente pela rádio local uma entrevista, ao vivo, com o grande escritor italiano Umberto Eco, discorrendo com maestria sobre as grandes crises humanas da modernidade.
Ao contestar um dos entrevistadores sobre a “verdade” de um tema fundado em dados estatísticos, Umberto Eco alertou para o que ele chamava de artifícios de uma “moderna forma de mentir”. Segundo ele, para toda mentira que se deseja dar-lhe contornos de verdade irrefutável basta atribuir-lhe a “autoridade” de critérios estatísticos, principalmente atribuindo a autoria a algum instituto de pesquisa que poucos ou ninguém sequer tenha ouvido falar. No tempo da entrevista, por se mais ou menos recente, já existia no meio intelectual a utilização da palavra “pós-verdade, que, embora tenha sido eleita só em 2016 como sendo a “palavra do ano” pelo dicionário Oxford, fora utilizada pela primeira vez em 1992, pelo dramaturgo sérvio-americano Steve Tesich.
É muito provável que Umberto Eco, que além de escritor e filósofo, era também linguista, semiólogo e bibliófilo, ainda que não se tenha notícia de sua utilização, já tinha conhecimento da palavra “pós-verdade”, como um neologismo designativo de uma situação de modelagem ou formação da opinião pública onde os fatos objetivos, reais, têm menos influência, pouca importância, privilegiando-se apelos emotivos, mitos, boatos, etc. Em outros termos, a “pós-verdade” não passa de uma denominação moderna para mentir, fraudar, falsear, encobertar ou disfarçar algo notório, óbvio, por jargões ou termos “politicamente corretos”.
Faz todo o sentido Eco optar pela expressão “estatística” como uma das formas modernas de mentir. Partindo de uma análise etimológica da palavra, ainda que perfunctoriamente, percebe-se a assertiva do mestre alexandrino. O substantivo feminino “estatística” surge da expressão em latim “statisticum collegium” que, segundo a enciclopédia Wikipédia, designa palestra sobre os assuntos do Estado, de onde deriva a palavra em língua italiana “statista”, que significa “homem de estado”, ou político. A partir disso seria possível inferir que o termo poderia ser designativo de “a arte de mentir”, “como mentir oficialmente”, ou coisas do tipo. Afinal, a política tem se convertido como “o dom de portar-se com pouco compromisso com a necessária seriedade”. “Estatística” aparece pela primeira vez como vocabulário na Enciclopédia Britânica em 1797, adquirindo um significado de coleta e classificação de dados no início do século XIX. A incursão sobre a origem etimológica e o seu significado semântico corroboram as incertezas sobre a credibilidade daquilo que se nos apresenta como “verdade estatística”.
Tenho muito receio de ser injusto ou, mais que isso, de parecer ofensivo e desrespeitoso com as lutas de determinados grupos ou segmentos sociais. Mais ainda, receio de, ainda que sem querer, depreciar o trabalho alheio. Todavia, não há como não questionar a abordagem sobre a violência quando feita de forma sectária, sexista ou centrada em critérios tendenciosamente étnicos ou de gênero.
Recentemente, o Atlas da Violência no Brasil de 2017 divulgou que a cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negros. De acordo com o Atlas, os negros possuem chances 23.5% maiores de serem assassinados em relação a brasileiros de outras raças, já descontado o efeito da idade, escolaridade, do sexo, estado civil e bairro de residência. Sempre que esses dados se referem à morte de pessoas negras como as principais vítimas, duas perguntas surgem, imediata e como imperativo da razão humana: Há, no Brasil, uma seletividade sistêmica de eliminação de pessoas de etnia negra? No Brasil, dado à nossa vasta miscigenação, é possível a definição segura de quem seja negro ou pardo, fora dos estados como Maranhão, Rio de Janeiro e Bahia, onde existe uma predominância de pessoas de pele negra em razão de nossa formação histórica-populacional? Foram nesses estados onde a escravidão negra foi mais preponderante em razão da lógica política e econômica da época pré-abolição.
Não é razoável supor que o elevadíssimo índice de violência que tanto nos envergonha como nação esteja associado ao extermínio deliberado de pessoas negras. Não obstante os focos pontuais de racismo em nosso país, não é honesto afirmar que exista entre nós um segregacionismo racial onde a sociedade inteira o pratica e a polícia, em atendimento aos desígnios primitivos e incivilizados, atua como exterminadora sistemática de pessoas negras como política de estado. Há uma exagerada adesão aos discursos academicistas, excessivamente romantizados que optam mais vias fáceis e cômodas da vitimização de determinados setores ou “coletivos” – para se usar uma palavra da moda – sem quaisquer compromissos com as questões de fundo. Não considero que isso seja uma lealdade com as causas da violência. Essa vitimização ignora o contexto, as circunstâncias, o perfil subjetivo das vítimas e dos algozes, indispensáveis para um estudo mais criterioso acerca das determinantes do fenômeno violento.
Para uma abordagem, digamos, mais realista e crível, por que não perquirir sobre as “motivações”, circunstâncias ou condições de vulnerabilidade social que ensejam a maior incidência do negro no cenário da violência? O medo de determinadas abordagens ensejam em lamentável escamoteamento de dados que poderiam ser de fundamental relevância para o estudo e profilaxia ou prevenção do fenômeno criminógeno. Por que fugir de perguntas ou reflexões do tipo: Quais os fatores sociais, psíquicos, atávicos, genéticos, biológicos, culturais que contribuem ou influenciam para uma maior ou menor presença do negro no cenário violento? O elevado índice de morte de pessoas negras ocorre apenas no Brasil ou ele se repete também em outras partes do mundo? Não acredito que essa metodologia possa vir a ser rotulada de racista ou segregacionista. São apenas sugestões como forma de uma maior contribuição ao estudo da violência.
Não é possível haver o enfrentamento sério e responsável da violência sem ter-se em mãos dados confiáveis, verdadeiros, sobre as suas motivações, suas determinantes. Falar da violência utilizando-se de repetidas suposições filosóficas ou românticas, que teimam em vergastar-se da lealdade por mero medo de se desviar dos mandamentos do “politicamente correto”, não demonstra contribuição alguma as nossas aspirações civilizatória, nem para a construção de uma cultura de paz e segurança.
Enquanto não se tiver coragem e honestidade para falar a verdade sobre os fatores de vulnerabilidade social que contribuem para a eclosão da criminalidade violenta, persistindo em reservar ao negro o eterno papel de vítima e não o de, também, agente ativo no protagonismo criminológico, como parte integrante de um complexo fenômeno englobante e que não exclui nenhum ator social de uma significativa parcela de contribuição para a ocorrência da violência, estar-se-á eternizando a mentira – amparada em dados estatísticos hipocritamente construídos e repetidos como se fosse um mantra.
(Manoel L. Bezerra Rocha, advogado criminalista – mlbezerraro[email protected])