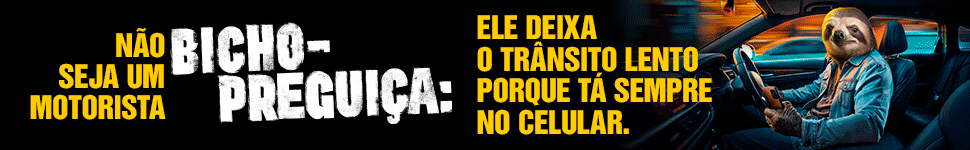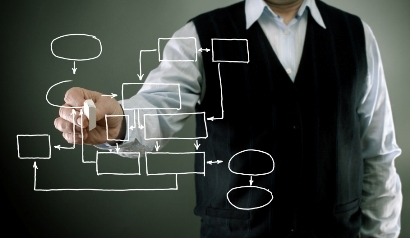O totem como bandeira e pesadelo do clã, o seu artesão
Diário da Manhã
Publicado em 8 de fevereiro de 2018 às 21:54 | Atualizado há 7 anos
“Quanto mais os frutos do conhecimento se tornam mais acessíveis ao ser humano, mais o declínio das crenças religiosas é distribuído”
(Sigmund Freud)
Toda religião é composta de representações e práticas rituais, crenças e ritos próprios da religião totêmica. O mito modela-se, muitas vezes, pelo rito, assim como crenças que só se revelam por meio deste. Essas são noções elementares assentadas na base da religião, também, na raiz da maioria das tribos australianas, especialmente um grupo que tem na vida coletiva lugar preponderante, o clã, arena de parentesco e consanguinidade. Há um signo que o determina ou designa coletivamente, que é o totem, também, o de cada um dos seus membros, segundo Durkheim. A palavra totem designa ou abriga uma espécie de coisas, como acontece com a tribo Algonquina Ojibway, australiana.
Os objetos que servem de totens pertencem, em sua grande maioria, ao reino vegetal, retratando nomes de plantas ou animais ligados às nuvens, à chuva, granizo, geada, lua, sol, vento, outono, verão, inverno, determinadas estrelas, trovão, fogo, fumaça, água, ocra vermelha, mar. Pode ocorrer que o totem seja não um objeto inteiro, mas parte dele. Entre o totem da fratria e os totens dos clãs existe uma espécie de relação de subordinação (Durkheim, 1989, p. 147). Além das palavras e dos clãs, encontramos frequentemente nas sociedades australianas outro grupo secundário que não deixa de ter certa singularidade, as classes matrimoniais. O totem é, primeiramente e antes de tudo, um nome, um emblema.
Os clãs australianos não são simplesmente muito numerosos, para uma mesma tribo, apresentam número quase limitado. Certamente, é pouco provável que os clãs australianos jamais tenham tido as dimensões e a sólida estrutura dos clãs americanos. Assim, não se pode inferir a existência dos totens, de fratrias, senão através de algumas sobrevivências, tão pouco marcadas, na maioria, que escaparam a muitos observadores. A distância moral que separa os clãs é pouca coisa ao lado daquela que separa as fratrias – duas fratrias, uma em relação à outra, como dois povos estrangeiros. O totem não é apenas um nome, é também emblema: “É, de fato, um desenho que corresponde aos emblemas heráldicos das nações civilizadas, e que cada pessoa está autorizada a usar como prova da identidade da família à qual pertence” (Schoolcraft, 1893, p. 377).
Nos lugares onde a sociedade se tornou sedentária, onde a tenda foi substituída pela casa, onde as artes plásticas já estão mais desenvolvidas, é na madeira, nas paredes que o totem se vê gravado. É o que acontece, por exemplo, entre os Haida, os Tsimshian, os Salish, o Tlinkit. Diferentes fatos é que dão sentimento do lugar considerável que o totem ocupa na vida social dos primitivos, o qual é relativamente exterior ao homem, representado apenas nas coisas. Um dos ritos principais de iniciação, o da entrada do jovem na vida religiosa da tribo, consiste precisamente em pintar-lhe sobre corpo o símbolo totêmico. Os laços que unem o indivíduo a seu totem são tão estreitos que o emblema é pintado não apenas sobre os vivos, mas também sobre os mortos a serem enterrados. Essas decorações totêmicas retratam o totem que não é apenas um nome ou emblema, que embora sendo etiqueta coletiva, assume caráter religioso, e, em relação a si as coisas são tidas como sagradas ou profanas, sendo ele próprio tipo de coisas sagradas.
Em meio às tribos da Austrália Central, principalmente os Arunta, Loritja, Kaitish, Unmatjera e Ilpirra, há as que utilizam determinados instrumentos, Entre os Arunta, de acordo com Spencer e Gillen, o Churinga, o que para Strehlow é Tijurunga. O Churinga aparece entre as coisas especificamente sagradas, sendo que nenhuma das outras o ultrapasse em dignidade religiosa. Seu caráter sagrado é tal que chega a se comunicar ao lugar onde estão depositadas as mulheres e não iniciados, impedidos de chegar até eles (p. 161).
As virtudes do Churinga não se manifestam apenas na maneira pela qual mantém o profano à distância, ele também é útil aos indivíduos. O destino de todo clã está coletivamente ligado ao deles, sendo sua perda o maior desastre e infortúnio que pode acontecer ao grupo, onde, se os homens imaginaram o milho, foi para poderem explicar a si próprios o respeito religioso que aquelas coisas lhes inspiraram, e esse respeito não foi regido pelo mito. O Nurtunga e o Waninga – que aparecem em grande número de ritos importantes – são objetos de respeito religioso, em tudo semelhante ao que os Churinga inspiram. A veneração da qual esse instrumento cultual é objeto reflete aquela inspirada nos antepassados. Assim, o Churinga, o Nurtunja e o Waninga devem sua natureza religiosa unicamente ao fato de trazerem em si o emblema totêmico.
Para compreender por que motivo essas representações totêmicas são tão sagradas, é interessante saber em que consistem. A relação entre a figura e a coisa figurada é tão indireta e longínqua que é impossível percebê-la quando não se está ciente. Somente os membros do clã podem dizer qual é o sentido atribuído por eles a esta ou àquela combinação de linhas as quais talvez expliquem a necessidade que o primitivo tem de inscrever sobre sua pessoa e diferentes objetos a noção que tinha do seu totem e qual a natureza da necessidade que deu origem a essas múltiplas figurações (p. 169).
No que refere à origem das crenças totêmicas, o totemismo individual é posterior ao totemismo de clã e parece mesmo ter derivado dele. É a religião não de animais ou de homens, imagens, mas de uma espécie de força anônima, impessoal, que se encontra em cada um desses seres. Sem perder força ou se confundir com nenhum deles permanece atual, vivo, semelhante a si mesmo, animando as gerações de hoje, assim como animava as de ontem e da maneira como animará as de amanhã. Essa força é o deus que cada culto totêmico adora, impessoal, sem nome nem história, imanente ao mundo, espalhado em qualidade inumerável de coisas, entidade quase divina. O círculo de sua ação vai além do clã, dos objetos, do totem. O totem possui forma material sob a qual se representa para as imaginações, carregado de substância imaterial, objeto de culto. O totem é a fonte da vida moral do clã. Toda religião, além de ser disciplina espiritual é também uma espécie de técnica que permite ao homem enfrentar o mundo com mais confiança. “O totem é o meio pelo qual o indivíduo é posto em relação com essa fonte de energia; se o totem tem poderes é porque encarna o Wakan” (DURKHEIM). O totem de um clã só é plenamente sagrado para esse mesmo clã, o grupo das coisas atribuídas a cada clã na forma de homens, com a mesma individualidade e autonomia. Um totem é sempre de um clã; a magia, ao contrário, de acordo com Durkheim, é instituição tribal e mesmo intertribal: “Trata-se de forças vagas que não estão ligadas especialmente a nenhuma divisão social determinada e que podem até estender sua ação para fora da tribo” (1989, p. 249).
Concebido pela imaginação popular, a exprimir sua linguagem colorida e essencial a todas as coisas sagradas: De acordo com um nativo Dakota, entrevistado por Miss Fletcher: “Tudo aquilo que se move para, aqui e acolá, em um momento ou em outro. O pássaro que voa para em um lugar para fazer seu ninho, e, em outro para descansar do voo. O homem que caminha para quando lhe apraz. O mesmo se dá com a divindade”. Trata-se do poder de produzir a chuva ou vento, a colheita ou a luz do dia; Zeus está em cada um dos feixes da colheita. A noção de força é, portanto, de origem religiosa. Foi da Religião que, inicialmente a Filosofia, e, posteriormente as Ciências a tomaram de empréstimo. É o que Comte já havia pressentido, é por isso que ele fazia da metafísica uma herdeira da “Teologia”. Não é a natureza intrínseca da coisa de que o clã trazia o nome que a destinava a tornar-se objeto de culto. São os emblemas e os símbolos totêmicos de toda a espécie que guardam o máximo de santidade. Fazem parte do clã os homens, animais e coisas, se o totem é ao mesmo tempo o símbolo do deus e da sociedade, então o deus e a sociedade não são uma única coisa? Ora, a sociedade também alimenta em nós a sensação de contínua dependência. Todavia, se a sociedade só obtivesse de nós essas concessões e esses sacrifícios por imposição material, não poderia despertar em nós senão a ideia de força física à qual devemos ceder por necessidade, e não por ideia de força moral do gênero das que as religiões adoram. A opinião, coisa social de primeira ordem, é, portanto, fonte de autoridade e podemos até nos perguntar se toda a autoridade não se origina da opinião (p. 262).
É por vias mentais que a pressão social se exerce, ela não podia deixar de dar ao homem o ideia de que existe fora dele uma ou mais forças, morais e eficazes ao mesmo tempo, das quais depende. Um deus não é unicamente a autoridade de que dependemos, é também uma força sobre a qual se apoia a nossa força. Eis o que explica a atitude do homem que fala à multidão: “Os sentimentos que provoca pela sua palavra voltam para ele, aumentados, ampliados, e, nessa medida reforçam o seu próprio sentimento”. Há períodos históricos em que sob a influência de um grande abalo coletivo, as interações sociais tornam-se muito mais frequentes e ativas. Os indivíduos reúnem-se mais, vive-se mais e de maneira diferente do que normalmente. Ora, são eles que dão ao homem sua fisionomia pessoal: “Entre todos os seres, o homem só é homem porque é civilizado” (p. 266).
Temos a impressão de que nos relacionamos com duas espécies de realidades distintas: de um lado, o mundo das coisas profanas, de outro, o das coisas sagradas. Sob a influência do entusiasmo geral, coisas puramente leigas foram transformadas, pela opinião pública, em coisas sagradas tais como a Pátria, a Liberdade, a Razão. É com as pessoas do mesmo clã que se tem mais coisas em comum, sendo que a ação desse grupo é que se sente mais imediatamente. A ação coletiva assume o clã, e, com ela, suscita a sensação do sagrado. Quando a voz humana não é mais suficiente, a ação de dá por meio de procedimentos artificiais que determinam uma excitação exacerbada e violência que afetam toda a vida física e mental. Quando os fogos se apagam faz-se um silêncio total, arma-se uma confusão geral: “A fumaça, as tochas em chamas, a chuva de faíscas, a massa de homens dançando e berrando, tudo isso” (Spencer & Gillen) “formava uma cena de selvageria de que é impossível dar ideia através de palavras”.
O totem é a bandeira do clã. A força religiosa não é outra coisa senão sua força coletiva e anônima, e já que essa só é representável aos espíritos sob a forma do totem, o emblema totêmico é como que o corpo visível do deus. Ao entrar em contato com o mundo, um sentimento de fraqueza e de dependência, de temor e de angústia teria sido apoderado do homem, vítima de uma espécie de pesadelo do qual ele próprio teria sido o artesão. As sociedades primitivas não são espécies de Leviatã que oprimem o homem com a enormidade do seu poder e o submetem à dura disciplina. A alma social é constituída de apenas pequeno número de ideias e de sentimentos, ela encarna-se, facilmente, toda inteira em cada consciência individual. Seria incompreensível que a humanidade tivesse se obstinado, durante séculos, em erros que a experiência teria lhe mostrado quase que imediatamente. Por detrás dessas figuras e metáforas, mais grosseiras ou refinadas, existe realidade concreta e viva. A religião assume assim sentido e razão, seu objetivo principal não é dar ao homem uma representação do universo físico (p. 281).
Dos laços que unem o indivíduo à sociedade, deus é apenas a expressão figurada dessa coletividade. Por essa razão os profetas, os fundadores de religiões, os grandes santos, em uma palavra, os homens cuja consciência religiosa é particularmente sensível, apresentam frequentemente sinais de nervosismo excessivo e até propriamente patológico. Essas taras fisiológicas os predestinavam aos grandes papeis religiosos. A vida social muito intensa exerce sempre sobre o organismo e a consciência do indivíduo uma espécie de violência que perturba o seu funcionamento normal, a conduta do homem com a mesma necessidade que forças físicas submetidas ao princípio totêmico e, mais geralmente, toda força religiosa, exterior às coisas nas quais reside causando impressões sobre nossos sentidos e espírito. O mundo religioso não é um aspecto particular da natureza empírica, é superposto a ela. Um fragmento de relíquia tem as mesmas virtudes que a relíquia integral. A menor gota dee sangue contém o mesmo princípio ativo do sangue todo, dada a noção do totem, emblema do clã, todo o resto vem, aliás, sem símbolos, os sentimentos sociais só poderiam ter existência precária numa realidade onde os fenômenos sociais originam-se, não no indivíduo, mas no grupo, onde a vida social, em todos os seus aspectos, e, em todos os momentos da sua história, só é possível graças a vasto simbolismo: “O clã é, aliás, uma sociedade que menos do que qualquer outra pode dispensar emblema e símbolo, porque outra não existe que careça tanto de consistência” (p. 289).
De qualquer forma, o sinal escrito assume, ainda hoje, na vida do clã lugar mais central que o sinal falado. Os centros totêmicos são certamente os lugares consagrados onde o clã realizava as suas assembleias. Com o clã não pode existir sem nome ou emblema, como se o emblema, por toda a parte, estivesse presente aos olhos dos indivíduos, sobre ele e os objetos que representa a recair nos sentimentos que a sociedade desperta em seus membros. O grande serviço que as religiões prestaram ao pensamento foi terem construído uma primeira representação daquilo que poderiam ser essas relações de parentesco entre as coisas. O essencial era não deixar o espírito subjugado às aparências sensíveis. A religião abriu-lhes o caminho. Entre a lógica do pensamento religioso e a lógica do pensamento científico não existe um abismo. Uma e outra são constituídas dos mesmos elementos essenciais, mas desigual e diferentemente desenvolvidos.
E o pulso, ainda pulsa!
REFERÊNCIAS:
DURKHEIM, Émile. Formas elementares de vida religiosa: o sistema totêmico na Austrália. São Paulo: Ed. Paulinas. 1989.p. 139-169; 239-296
(Antônio Lopes, escritor, filósofo, professor universitário, mestre em Serviço Social e doutorando em Ciências da Religião/PUC-Goiás, mestrando em Direitos Humanos/UFG, membro do Conselho Editorial da Kelps Editora)