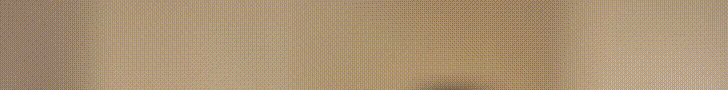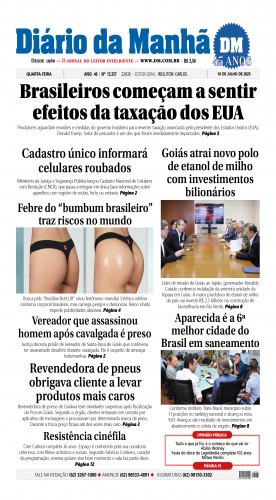A História do Brasil negro contada por Portugal
Redação DM
Publicado em 31 de janeiro de 2018 às 20:43 | Atualizado há 7 anos
“Enquanto a cor da pele dos homens valer mais do que o brilho dos olhos, sempre haverá guerra”
(Bob Marley).
Os trabalhadores com data de nascimento, entre os anos 1960 e 1980, pertencem à Geração X, filhos da Geração Baby Boomers, formada logo após a Segunda Guerra Mundial e pelos pais da Geração Y. Nesta juventude militou o mineiro Beto Guedes a cantar, na década de 80, que “quando entra setembro, a boa nova anda nos campos”. Fato é que nos meses de janeiro a dezembro, de todos os anos capitalistas – pós-modernos – “é possível caracterizar a sociedade em que vivemos em uma palavra: desigualdade” (MENDES, in Paro, 2006, p. 165). Um simples recorte da história recente do Brasil, que alcança, em setembro de 2012, com a portuguesa Marta Araújo, investigadora do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, em Portugal, a finalização da pesquisa realizada, desde 2008, enquanto coordenadora de trabalho no qual conclui que os livros didáticos daquele país “escondem o racismo do colonialismo português a naturalizar a escravatura”.
O acontecimento torna-se manchete e persiste, ainda hoje, na visão romântica de que “portugueses cumpriram uma missão civilizatória, de bons colonizadores, mais benevolentes do que outros povos europeus”. Tragédia social programada, a escravatura não ocupa mais de duas ou três páginas nos livros “adotados pelos portugueses”, sendo tratada de forma vaga e superficial. Também propagam “ideias tortuosas”, por exemplo, “quando falam sobre as consequências da escravatura, o único lugar a ganhar maior destaque é o Brasil, mesmo assim, para falar sobre a miscigenação”, afirma. De igual modo, em virtude dos “descobrimentos”, estas obras alardeiam povos que movimentaram para outros continentes – sobretudo europeus e escravos africanos – vítimas da pobreza absoluta e berços montados a cacos de vidros.
A história contada, sob a ótica dos vencedores, de forma, “como se os negros tivessem optado por emigrar em vez de terem sido levados à força”, essa a realidade impressa nas páginas da teoria de ensino que retrata o colonialismo, ainda hoje, “ensinado” em Portugal, o que reforça, segundo Souza, a “importância de que saibamos quais são as “fontes morais” que comandam o nosso comportamento moral, ainda que as percebamos apenas em seus ‘efeitos’ sem que tenhamos clareza acerca da hierarquia valorativa da qual eles constituem o vértice” (2015)
Por trás disso, está o propósito de destacar a suposta multirracialidade no Brasil colônia que – neste sentido – seria um exemplo do sucesso das políticas de miscigenação enfiadas garganta abaixo pelo conta-gotas da barbárie da conquista. “Na prática, porém, sabemos que isso não ocorreu da forma como é tratada”, questiona Araújo, afirmando que “nada mudou”. A pesquisadora argumenta que a falta de compreensão sobre o assunto traz prejuízos: “Essa narrativa gera uma série de consequências, desde a menor coleta de dados sobre a discriminação étnica e racial, até a própria não admissão de que temos um problema de racismo”, afirma. E para discutir o conceito racismo é imperante compreender que “obedecer e compreender uma regra social é antes de tudo uma prática aprendida, e não um conhecimento. A ‘prática’ pode ser articulável, pode explicitar razões e explicações para seu ‘ser deste modo e não de qualquer outro’, quando desafiada a isto” (SOUZA, 2015, p. 175) Com foco nas vítimas passivas de uma colonização verticalizada, tramada em Portugal, a pesquisa contou com a ajuda de pesquisadores focados na análise de cinco livros didáticos de História mais vendidos no país da Revolução dos Cravos, destinados a alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico, entre 12 e 14 anos, o que compreende 7º e 9º anos. Compromissados entre workshops e aulas – a tratar de políticas públicas – os pesquisadores presenciaram a realidade que chamou a atenção ao retratar estudantes surpresos com as revoltas das próprias populações escravizadas, o verdadeiro significado dos quilombos – segundo a história embranquecida – destino dos escravos “fugidios, escondidos e fortificados em locais de difícil acesso, no interior das matas”. Sem qualquer dúvida estruturalista, uma esfera teórica destinada a “afastar do domínio da racionalidade – todas as questões colocadas pela ética humanista, pela ontologia materialista e pelo historicismo concreto” (COUTINHO, 2010, p. 73).
A professora doutora em Sociologia, Edwiges Carvalho, que trabalha e pesquisa a área sociopolítica, ao comentar a questão histórica, enfatiza três pontos que retratam a sociedade brasileira “em débito enorme com a população negra que foi escravizada a partir da concepção de expansão econômica territorial europeia – lembrando que este processo não foi superado com a ‘Libertação dos Escravos’, em maio 1888. Ainda continua a condição de subalternidade econômica e social desta população que sofre as mais diversas formas de discriminação”. Ela indica a leitura de um dos melhores historiadores desta área, em sua opinião, o professor João José Reis, dos quadros da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Como resultado, versões históricas impressas, como as adotadas pela nação portuguesa situada no Sudoeste da Europa, zona ocidental da Península Ibérica e em arquipélagos no Atlântico Norte- acabam num consenso – e não levantam as polêmicas necessárias à problematização do ensino sobre a História da África. “Em outros países, há uma abertura muito maior para discutir como essas populações lutavam contra a opressão. Mas no caso português, os alunos nem sequer poderiam imaginar que eles se libertavam ‘sozinhos’ e continuavam a acreditar que todos eram ‘vítimas passivas’ da situação, uma ideia muito resignada”, afirma Araújo. A autora destaca que nos livros analisados “não há nenhuma alusão à Revolução do Haiti, conflito sangrento que culminou na abolição da escravidão e independência do país, que passou a ser a primeira república governada por pessoas de ascendência africana”. Sobre a realidade de dor, sangue e iniquidade recente, estampada em museu a expor o tronco, Coutinho afirma que “o verdadeiro inimigo da nova ‘miséria da razão’, portanto, continua a ser aquela concepção do mundo que herda, desenvolve conceitos básicos da tradição progressista, do humanismo, historicismo e da dialética” (2015).
A narrativa do colonialismo engendrado por Portugal foi a de um “colonialismo amigável”, do qual resultaram sociedades multiculturais e multirraciais – e o Brasil seria um exemplo onde e quando os quilombos são representados como “locais onde os negros dançavam em um dia de festa”. A visão romântica, diferentemente de outros países, imprimiu nos livros didáticos portugueses a continuidade desta visão sobre o colonialismo daquela nação exercido na periferia. Ironicamente, contudo, outras potências colonizadoras – daquele tempo – não são retratadas de igual forma, e, longe de seus “objetos de expropriação”, tornaram-se incapazes de compreender “através do relato das dificuldades mais ‘pessoais’, das tensões e das contradições aparentemente mais estritamente subjetivas, geralmente se exprimem as estruturas mais profundas do mundo social e suas contradições” (BOURDIEU,1998). É importante destacar que os trabalhadores constituem a massa “livre” para vender sua força de trabalho, mesmo quando “inseridos na exclusão”. A sociedade escravista retrata homens livres para escolher seus destinos, observado o mérito. Esses mesmos seres sociais, no entanto, não são “livres” para escolher seus destinos, na organização socioeconômica capitalista, na qual, de acordo com Mendes, “também os homens são levados a crer que dispõem de tal liberdade” (2006, p. 160).
Exemplo dessa discussão A Descoberta das Américas, onde os espanhóis são descritos como “extremamente violentos” sempre em contraste com a “suposta benevolência” do colonialismo português e dos impérios francês, britânico e belga – tachados de “racistas”. Por outro lado, devido à despolitização crescente, nunca se fala da questão racial em relação ao colonialismo português, onde o culturalismo racista nunca percebeu ou compreendeu esse fato fundamental, abortado das obras “Sobrados e Mucambos” ou “Casa Grande Senzala”, de Gilberto Freyre, “usados por Roberto daMatta, para criar suas oposições fictícias entre casa e rua, por exemplo, e modernizar o culturalismo racista para os dias de hoje”, conforme Jessé Souza. Os livros didáticos holandeses, por exemplo, atribuem a escravatura aos portugueses. Segundo Araújo, essa ideia da “benevolência do colonizador português” acabou encontrando eco no luso-tropicalismo, tese desenvolvida pelo cientista social brasileiro Gilberto Freire, sobre a relação de Portugal com os trópicos, defendida por ele – a capacidade do português de se relacionar com os trópicos – não por interesse político ou econômico, mas por suposta empatia inata. E que resultaria de sua própria origem ética híbrida, da sua “continentalidade dupla” e do longo contato com mouros e judeus na Península Ibérica. “No mais das vezes, a história foi escrita sob o ponto de vista das autoridades, representadas no fardão das elites” atesta a professora universitária Eliana Sarmento, mestre em Serviço Social, com enfoque na área das Políticas Sociais.
Apesar de rejeitado pelo Estado Novo de Getúlio Vargas (1930-1945) – por causa da importância que conferia à miscigenação e interpenetração de culturas – o luso-tropicalismo ganhou força como peça de propaganda durante a ditadura do português António de Oliveira Salazar (1932-1968). Uma versão simplificada e nacionalista da tese acabou guiando a política externa do regime. “Ocorre que a questão racial nunca foi debatida em Portugal”, ressalta Araújo. Sem resposta exata para tantas perguntas (des) humanas, a pesquisadora alega que enviou os resultados da pesquisa ao Ministério da Educação português, sem nunca obter resposta: “Nossa percepção é que os responsáveis acreditam que tudo está bem assim e que medidas paliativas – como festivais culturais sazonais – podem substituir a problematização de um assunto tão importante”, critica. “É assim, afinal, que as ideias dominantes passam a determinar a vida das pessoas comuns e seu comportamento cotidiano sem que elas tenham qualquer consciência refletida disso” (SOUZA, 2017). Nesse sentido, Araújo elogia a iniciativa brasileira, de 2003, que tornou obrigatório o ensino de História e Cultura afro-brasileira e indígena em todas as escolas, públicas e particulares, desde o Ensino Fundamental até o Ensino Médio, Lei 10.639/2003, alterada pela Lei 11.645/2008. A pesquisadora Araújo enfatiza: “Precisamos combater o racismo, mas isso não será possível se não mudarmos a forma como ensinamos nossa História”.
Para a professora mestre em Serviço Social, especialista em Direitos Humanos, Anny Borba: “A colonização praticada pelos portugueses foi tão agressiva no que refere ao Brasil, que eles utilizaram – segundo o historiador Jessé Souza – do sadismo aqui utilizado, mesmo que ‘proibido’ na Europa. E que foi naturalizado e exposto na violência contra o gênero feminino, lembrando que aí acontece, mais uma vez, a divisão de classes, quando a mulher índia e escravizada negra tem no seu corpo a arena onde, segundo Foucault, ‘todas as formas de penalização são válidas’”. Foi por conta da “ação institucional, primeiro religiosa, e depois, hoje em dia, pela ação da mídia e da indústria dos bens de consumo cultural, como cinema e livros populares, que essa hierarquia moral que separa os homens e as mulheres em seres de primeira e de segunda classe ganhou nossos corações e nossas mentes” (Souza, 2017, p. 27). O pressuposto nunca refletido no caso é a separação da raça humana entre aqueles que possuem, sendo, portanto, animalizados e percebidos como corpo: “A distinção entre espírito e corpo é tão fundamental, porque a instituição mais importante da história do Ocidente, a Igreja Cristã, escolheu como caminho para o bem e para a salvação do cristão a noção de virtude como definida por Platão”. Este, por sua vez, definia a virtude “nos termos da necessidade de o espírito disciplinar o corpo percebido como habitado por paixões incontroláveis – o sexo e a agressividade à frente de todas – que levariam o indivíduo à escravidão do desejo à loucura” (SOUZA, 2017).
Discorrer sobre a permanência dessa semente de sociabilidade nacional, mesmo depois de abolida a escravatura, fazendo de conta não saber que o “preconceito é a ideia para a qual a violência é um modo de agir, ele fala o que a violência faz” (The Anatomy of Prejudices, BRUEHL). Sob o guarda-chuva da imposição histórico-cultural lusitana, a máxima de que “não há brasileiro de classe mais elevada, mesmo depois de nascido e criado, que não se sinta aparentado do menino Brás Cubas na malvadez e no gosto de judiar com negros. Aquele mórbido deleite em ser mau com os inferiores e com os animais é bem nosso: é de todo o menino brasileiro atingido pela influência do sistema escravocrata” (Souza, 2017, p. 50). Os valores do sadomasoquismo social se transmitiam (e se transmitem até hoje) de pai para filho, pelos mecanismos sutis da “educação”, como o exposto nas páginas impressas com ideias de Machado de Assis: “[…] um dia quebrei a cabeça de uma escrava, porque me negara uma colher de doce de coco que estava fazendo, e, não contente com o malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho, e, não satisfeito da travessura, fui dizer a minha mãe que a escrava é que estragara o doce ‘por pirraça’; e eu tinha apenas seis anos” (in Souza, 2017, p. 50).
Adultos relutantes, as “crianças travessas”, de outrora, ou a coletividade globalizada, engendra por um caminho que leva ao gargalo social das iniquidades. A concorrência; o ego carente de ser afagado por um fetiche capitalista; a opinião de um olho só a beber da fonte do retrocesso no senso comum; a ânsia pela rapidez da conquista; o ciúme e olho grande; a incapacidade de se conviver e bem viver na diferença. Assim como a diversidade e o pluralismo a comer no prato da miséria da razão; os direitos humanos sequestrados na fala e poder do mais forte; a cidadania do faz de conta democrático-corrupto tradicionalista; a equidade a seguir os passos da espora; a inclusão determinada no poder de consumo; a qualidade e a competência que não vestem a sandália do humilhado, do mais pobre; as questões de gênero, classe social, etnia, religião, nacionalidade, identidade e orientação sexual, condição física erguida a estômagos vazios, determinam a urgência de uma liberdade e ética política trespassada pela causa social. A educação do homem do campo, ou na cidade, passa pela escola com o poder de agregar múltiplas experiências e visões de mundo, de acordo com Sales & Neto “tais experiências se encontram ligadas às vidas dos sujeitos que ali se inserem” (2017, p. 61).
Os sinos da nova era a despertar a senzala, ao tempo que anuncia a revolução na Casa Grande avisam da hora em dar à tona da história um dado atualizado, recontado e novo. É tempo de referir e reconhecer; pedir o perdão pela barbárie estampada nos navios tumbeiros, em muros de pedra, na chibata, no escravizado a lavar as costas da Sinhá, no tronco do pelourinho a serviço do capitão do mato. Chega da orgia sangrenta, covarde e impune do coronel, basta do faz de conta dos livros de uma história embranquecida escrita na ideologia destinada a manter a ordem, o progresso, a venda factual de mercado. Para os certos de que a escravidão e racismo no Brasil acabaram, em 2013, a revista “Labor”, do Ministério Público do Trabalho, denunciou o caso Zara – a figurar entre os 3, 3 mil estabelecimentos inspecionados – onde foram resgatados mais de 43 mil trabalhadores de 1995 a 2012, durante operações no combate ao trabalho escravo contemporâneo. Esse o capítulo expõe uma atualidade a refletir no espelho a herança socioeconômica da boa colonização portuguesa. Iniquidade a contar histórias dos sujeitos sem face, como as catarinenses “Zélia Machado, que perdeu os dedos da mão direita, e Valdirene da Silva, que após 11 anos desossando sete coxas de frango, por minuto, foi aposentada por invalidez e se tornou dependente de morfina, ambas, tinham jornada de trabalho típica do início do século passado” (Labor, ano I, número I, p. 7, 2013)
E o pulso, ainda pulsa!
REFERÊNCIAS:
BRASIL. Código de Ética do Assistente Social, 1993; COSTA, PIMENTA E PEREIRA. Educação no e do Campo, 2017; COUTINHO. O estruturalismo e a miséria da razão, 2010; Revista Labor. Ano I, no I, 2013; SOUZA. A elite do atraso, 2017; A tolice da inteligência brasileira, 2015; site: http://www.bbc.com/portuguese/internacional-40735234
(Antônio Lopes, escritor, filósofo, professor universitário, mestre em Serviço Social e doutorando em Ciências da Religião/PUC-Goiás, mestrando em Direitos Humanos/UFG)