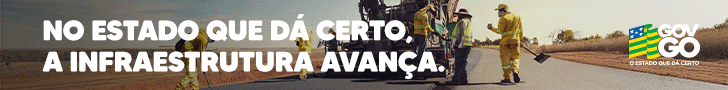Carreando sonhos e histórias na saga dos caminhos rurais
Redação DM
Publicado em 6 de julho de 2016 às 03:01 | Atualizado há 8 mesesNo princípio era apenas o chão, o imenso “sertão sem fim” que constituía o coração geográfico da pátria brasileira e que era conhecido pelo isolamento e ferocidade de seus bichos e a imensidade de seu inexplorado território. As primeiras incursões datam ainda do século XVIII com tentativas de reconhecimento do interior do Brasil no caminho das minas de Cuiabá. Foi somente em 1727 que se oficializou a penetração do bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, que fundou o arraial de Vila Boa de Goyaz, gênese da civilização goiana.
Os primeiros núcleos urbanos foram insuflados pela febre do ouro e das riquezas minerais: Meya Ponte (Pirenópolis), Santa Cruz de Goyaz (Santa Cruz), Trahyras (Tupiraçaba); Corumbá de Goyaz (Corumbá); Pilar de Goyaz, Bonfim de Goyaz (Silvânia) e Anicuns. Com o declínio da mineração, já no século XIX, outras povoações surgiram com o ciclo agropecuário como Pouso Alto (Piracanjuba), Curralinho (Itaberaí), Goiabeiras (Inhumas), Campininha das Flores (bairro de Campinas, Goiânia); Catingueiro Grande (Itauçu), Alemão (Palmeiras de Goiás), Abóboras (Rio Verde), Jatahy (Jataí), Santa Rita do Paranaíba (Itumbiara), Bananeiras (Goiatuba), Mestre de Armas (Planaltina), Vila Bela de Nossa Senhora do Carmo (Morrinhos), Couros (Formosa), Calção de Couro (Goianésia) e muitos outros lugarejos, hoje, grandes cidades.
Outros núcleos urbanos, no âmbito da história goiana, tiveram formação diversa como Barro Preto da Santíssima Trindade (Trindade), Aparecidinha (Aparecida de Goiânia), Nossa Senhora da Abadia do Muquém (Muquém), Gameleira (Cristianópolis) e Palmelo, nasceram sob a égide da fé, além das cidades do ciclo da Estrada de Ferro Goyaz, no começo do século XX como Urutahy (Urutaí), Cumari, Anhanguera, Pires do Rio e Tavares (Vianópolis). A totalidade dessas cidades nasceu na força hercúlea e calada dos animais.
Os animais, de uma maneira geral, passaram a traduzir, desde muito cedo, a força para o trabalho. Labuta nos engenhos, olarias, fazendas, transporte de madeira, lenha, produtos da fazenda, transporte de pessoas, mudanças, viagens, passeios. A vida e todas as suas atividades diárias dependiam desses animais para acontecer.
Na força dos animais, a história foi vagarosamente escrita; daí a importância dos mesmos na Geografia e História de Goiás, ao se compreender que a Geografia atenta-se para as modificações ao longo do tempo e delimita o tempo e o espaço do fenômeno no âmbito da sincronia. Entende que no passado não existe descontinuidade.
Pelos fatos, na esteira do tempo há um embricamento dos diferentes atores na territorialidade. Tal fato ocorreu quanto à mobilidade em Goiás e quanto ao uso dos animais.
Domesticados, explorados, maltratados, foram obrigados a servir desde os tempos mais remotos e se constituíram em alavanca de progresso a todo custo. Em seus suores, dores, cansaços ficaram escritas várias páginas na história goiana.
Na história dos transportes em Goiás o uso das cadeirinhas, liteiras e banguês é descrito como acessório luxuoso das famílias abastadas que residiam em cidades mais opulentas como Vila Boa, Meia Ponte e Santa Cruz, e que se utilizavam desse meio de locomoção para demonstrar o padrão social elevado. Em Sombras em marcha, romance de Rosarita Fleury, o uso desses transportes é evidenciado na rotina social de Vila Boa do começo do século XIX.
Por esta visão e análise, percebe-se que, o geógrafo não observa apenas a periodização dos fatos, mas analisa e descreve as mudanças na paisagem, discutindo-as a luz da cultura, impulsionada pelos valores do tempo e reconstrói o passado; mesmo que seja de forma imaginária.
Há descrições interessantes do uso desses meios de transporte nos romances Chegou o governador, de Bernardo Élis Fleury de Campos Curado e Sombras em marcha, de Rosarita Fleury, que destacam a elite vilaboense, nos serões familiares daqueles tempos do século XIX, utilizando os mesmos para locomoção de senhoras e moças de família que não podiam ser “vistas de todo mundo”, como também destacou Cora Coralina em seus versos no livro “Poemas dos becos de Goiás e estórias mais”.
No mais, o transporte com animais era uma forma de penetração ao grande sertão, isolado por dificuldades de acesso em razão dos grandes rios e suas correntezas. Um dos grandes desafios administrativos daquele Goiás dos meados do século XIX era a fixação do homem em lugares mais distantes da Província e garantir-lhe a possibilidade de sobrevivência.
Sobre o uso do banguê em Goiás, escreveu Ofélia Sócrates do Nascimento Monteiro em seu livro Reminiscências – Goyaz de antanho, obra que busca analisar e demonstrar o modo de vida interiorano na antiga capital de Goiás nos primeiros anos do século XX e as peculiaridades da convivência familiar e com a natureza: “Espécie de liteira comprida com teto e cortinas de couro, com dois varais na frente e dois atrás. Aos varais são jungidos um cavalo na frente e outro atrás. Este último, com a cabeça na traseira do banguê, se limita a regular o passo pelo da frente, pois não enxerga a estrada por onde deve passar. Um camarada, a pé, guia o animal da frente. É um meio de transporte demasiadamente lento.”
Banguê também era é um tipo de rede sustentada por um cambão para transportar gente morta ou doente. Joaquim Rosa em seu livro histórico Por esse Goiás afora, comenta o uso do banguê nos sertões de Goiás: “Uma vara comprida e grossa, tendo em cada ponta, em forma de T, outra mais curta, com as extremidades apoiadas nas cabeças dos arreios de quatro cavaleiros, dois na frente, dois atrás. Dependurada, no sentido da maior, a rede e, dentro dela, coberto com um lençol de americano, o corpo do homem, trazido no banguê.”
Assim, as cadeirinhas, liteiras ou banguês eram transportes que utilizavam os animais e estavam ligados ao meio urbano colonial. Muitos desses, também, utilizavam escravos fortes e treinados que substituíam os animais. Havia escravos devidamente treinados para tal, animalizando o ser humano, como hoje se pode verificar muitos, nas grandes cidades, puxando carroças e carroções de material reciclável.
Com muita propriedade e sabedoria, Câmara Cascudo criou o termo “Geografia dos currais”. De fato, existe uma Geografia latente no mundo da labuta do gado, das tradições, usos, modismos, falares, saberes, cantares. Um mundo que aos poucos se dissolveu e que, hoje, está presente na paisagem pretérita da terra goiana, na paisagem onírica, diluída na sensibilidade dos corações.
O termo curral, ao longo do tempo ganhou outras denominações curiosas como curral das éguas (zona meretrícia), curral eleitoral, curral do conselho e curral, como terminal de ônibus, isto em Goiânia. Muita gente nos ônibus lotados ainda grita: “Motorista, vô apiá no currali.” É a roça que continua entranhada no sangue, mesmo que todos neguem.
Assim, os carroções eram veículos pesados, geralmente sem as laterais, apenas com as rodas e uma mesa de madeira para servir de apoio às grandes toras de madeiras que eram retiradas das matas e arrastadas por esta até as serrarias das fazendas para servirem de esteio de casas, currais, paióis, chiqueiros, engenhos, olarias, para tábuas de assoalho, e, também, para móveis.
As charretes eram variedade de carroça, conduzida por apenas um animal, com molas, assento estofado e cobertura própria. Servia para passeios, geralmente de moças e senhoras, para assistirem festas e missas na cidade. Há uma variante goiana: Em Trindade, foi chamada de “balaio de puta”, porque servia ao transporte das meretrizes da zona para as compras no centro da cidade. Havia na antiga rodoviária municipal um “ponto de charrete”, hoje desaparecido.
As carroças já possuíam finalidade múltipla. Geralmente utilizadas para os serviços de buscar lenha, capim, cana, esterco, passeios na cidade, transportar leite, lavagem para os porcos, era e continua sendo um veículo essencial para a vida do campo. Em muitas cidades do interior ainda há o “Ponto de carroça”, para diversas finalidades.
Nas suas laterais havia duas gavetas para transporte de miudezas, banco para assento de três pessoas e duas “orelhas” laterais onde, geralmente, se assentavam os carroceiros e os condutores de animas.
As carroças foram tão usadas em Goiás que havia mesmo imposto a ser pago para a sua circulação. Tirava-se licença para o transporte, havia numeração e as mesmas eram registradas conforme a marca, sendo a “Prado”, uma das mais vendidas em todo o País.
Na lida com animais, há belas descrições também nas obras de Geraldo Coelho Vaz, reconhecido escritor, em seu livro Diário de tropeiro e nas reminiscências de seu pai, Glicério Coelho, na obra Memórias de um peão de boiadeiro, duas grandes referências para leituras na área.
As carroças também passaram por evolução durante o seu uso. Primeiramente tinha rodas raiadas de ferro ou de madeira, e circulavam pelas ruas fazendo muito barulho e quebrando sempre. Com os automóveis, as carroças passaram a ter rodas de borracha e, também, com suspensão, melhorando o uso das mesmas.
No tempo das estradas de ferro, as carroças foram largamente utilizadas em cidades em que o trem passava, no transporte de pessoas e de carga. Nas proximidades das estações rodoviárias de muitas cidades do interior ainda é possível o “ponto de carroça”, como exemplo na cidade de Trindade. Anápolis, nos anos de 1930, chegou a ter mais de mil carroças em transporte constante de mercadorias no seu amplo comércio.
O carro de boi talvez seja o mais lírico, o mais doce, o mais poético de todos os transportes em que se utilizava e ainda se utiliza dos animais. Até mesmo na denominação dos bois há valores linguísticos e poéticos dignos e nota: boi ladrão, boi carreiro, boi banana, boi casado, boi chita, boi de boiada, boi de cabeceira, boi de carga, boi de coice, boi de força, boi de guia, boi de piranha, boi de pé, boieco, boizinho, garrote, farra do boi, boi de corte, gado solteiro, gado de cria, gado de engorda, gado de leite, ponta de gado, gambira de gado, marroeiro, marruco e novilhada. Há, segundo Bariani Ortêncio, nosso grande folclorista, uma qualidade de cigarra nas matas que tem o nome de “cigarra boiadeira”, tal a importância do boi.
Coice é a parte traseira de uma junta de bois ou de um magote de boiada. Brás José Coelho em Peonagem e cabroeira destaca: “Nunca fora de muito trabalho; fazer força era para boi de canga, e assim mesmo para os de coice e de guia, que os outros levavam o carro num esforcinho mais barato.”
São expressões da vivência do homem do campo com a lida do gado nos currais, nas invernadas, nas boiadas que seguiam pelo sertão, nos bois carreiros e nos matadouros. Curiosas, também, são as expressões ligadas à velocidade do trajeto, chamada de “marcha”, que é o nome de uma distância percorrida pela boiada, carro de boi ou tropa de animais em um dia de trabalho, que variava de três a seis léguas, dependendo do tempo e as condições do gado/tropa: marcha batida, marcha picada, marcha de rua.
Até mesmo morto, o boi servia de amuleto contra o mal. As cabeças de gado nas entradas de fazenda atestavam o quanto elas foram marca de superstição e de proteção aos fazendeiros e povo sertanejo de outrora, seja nas varandas ou nas entradas de fazendas.
O boi é tão famoso, que virou nome de brinquedo: Berra-boi: feito de uma tala de madeira amarrada a um cordão, que é rodado para produzir um ruído onomatopeico, como descreveu Jeovah de Paula Rezende em seu livro Cenas do Desemboque: “Como fosse sexta-feira da Paixão, o sino e campainha achavam-se abolidos; levavam, em seu lugar, duas matracas e três instrumentos que consistiam em pequenas tábuas presas à ponta de cordéis, conhecidos por berra-boi; rodavam-se-lhes no ar e conseguia-se, com o deslocamento, um forte trá-trá-trá.”
Também, curraleiro é uma espécie de gado goiano de chifres grandes, oriundo dos currais do Rio São Francisco. Sobre ele escreveu o sertanista Leolídio Di Ramos Caiado em seu livro Expedição sertaneja Araguaia-Xingu: “Somente, as vacas eram bastante velhas, davam escasso leite, pois eram de raça curraleira, ainda muito primitiva.”
Ainda Basileu Pires Leal descreveu em seu livro “A sombra do tamboril”: “Tive, também, em mente reconstituir boa parte do folclore daquela região, como, por exemplo, a dança curraleira. Esta dança, até os anos vinte, era muito requisitada na maior festa da roça, os famosos pousos de folia. Originária do nordeste do Estado, mais propriamente do Vão do Paranã, a curraleira exprimia as propriedades do gado curraleiro, o qual prevalecia naquela região.”
A raça de gado creoula foi muito importante para a história goiana. Sobre ela escreveu o padre Victor Coelho de Almeida em seu livro “Goiaz, usos e costumes”: “Nos campos, pasce numeroso gado. Quase todo ele de raça curraleira, creoula, ou mocha; e um ou outro amestiçado com zebu.”
O ser humano profissional com o carro de boi, chamado carreiro, tem toda uma história de participação decisiva nos destinos econômicos, sociais e culturais em nosso Estado. Wilson Cavalcanti Nogueira foi o mais dedicado historiador e pesquisador sobre o mestre carreiro, deixando uma produção vasta sobre o carreiro ao longo do tempo.
Já o boiadeiro foi aquele que, seguido dos camaradas, percorria as grandes áreas do sertão comprando gado, tangendo-o para diversos outros locais. Para defini-lo com maestria, o mestre Carmo Bernardes, assim escreveu em 1984 no Jornal Diário da Manhã: “Para começar, cabe-nos informar que entre o pessoal que lida com os bois de boiada há toda uma hierarquia, não só de mando bem como de competência. Carece saber que boiadeiro é aquele que possui o capital, o capitalista que compra e vende boiadas. Entre estes há também uma divisão de categoria, que vai do faiscador, que é o boiadeirinho miúdo que compra as bezerradinhas dos criadores de pequena escala, e deste passa para o invernista que recria e engorda para dar as boiadas prontas ao boiadeiro magnata que compra grandes partidas, ou este mesmo invernista vende diretamente ao frigorífico.”
O candeeiro era e ainda é a pessoa que, com uma vara de ferrão, seguia adiante dos bois, conduzindo-os. Indivíduo que, armado de vara de ferrão, ia à frente da junta de bois. Era ele que sempre abria as cancelas (porteiras) para a passagem dos bois.
Há belas descrições em nossa literatura brasileira feita em Goiás sobre o carro de bois como de Olímpio Pereira Neto em sua obra Um lugar no mapa, em que descreve historicamente o surgimento de Campo Formoso, hoje Orizona: “O tempo foi correndo e quando eu ouvia nos sertões a cantiga do carro de bois, no ranger dos cocões na cantadeira do eixo, cujo eco desaparecia nas matas ou nos prados.”
Rosarita Fleury na Revista da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás também destaca sobre o carro de boi em belas descrições poéticas: “Mal acabávamos nosso comentário de louvor, já o carro voltava carregado de arroz, seu triste cantar ora agudo, ora grave, chamando-nos à porta. Não podíamos perder aquela beleza. Corríamos todos, os netinhos agarrados à minha saia porque nunca tinham visto um carro de bois e sentiam medo.”
As principais peças de um carro de boi são, segundo os admiráveis mestres Bariane Ortêncio e Wilson Cavalcanti Nogueira: agulha; ajoujo; argolão; azeiteiro; barbela; brocha; cabeçalho; cadeia; cambão; candeeiro; canga; cantadeira; canzil; carreiro; cavilha; chavelha; chaveta; cheda; chumaço; cocão; contra-chumaço; cravelha; descanso; espeque; espera; esteira; ferrão; fieira; fueiro; fura; guampo; juntas; junta de coice; junta de guia; junta de contra-guia; mesa; parelha; pião; pigarro; pique; recabém ou banguê; tolda; tutano no guampo e vara de ferrão, no par de rodas: 2 meões, 4 cambotas e 4 arreias; na candeia: 4 arreias e 1 recavém. Equipamento: 1 eixo, 4 cocões, 2 chumaços, 1 pigarro, 1 chavelha, 12 fueiros, 1 esteira, 1 caniço, 1 espera, 1 azeiteiro. A arreata: cangas, canzis, cambões, Arreatas em correias: tiradeiras, brochas, ajoujos, tamboeiras, corda de trava e moitão.
O cocão é outra parte do carro de boi. Representa cada um dos mancais do veículo que se situam abaixo da cheda, entre os chumaços e que sustentam o eixo do carro. Olímpio Pereira Neto em sua obra Um lugar no mapa, descreve essa parte do veículo: “O tempo foi correndo e quando eu ouvia nos sertões a cantiga do carro de bois, no ranger dos cocões na cantadeira do eixo, cujo eco desaparecia nas matas ou nos prados.”
Há também a brocha, que designa a barbela do boi ou o trancelim de couro de boi que une os canzis, passando por baixo do pescoço do animal. Nos escritos de Edmundo Pinheiro de Abreu em suas memórias intituladas Curralinho, seus costumes e sua gente, há explicações de cunho literário: “A canga de madeira especial, tendo nas extremidades uma pequena curvatura de dois buracos paralelos por onde se metia o canzil, preso debaixo da barbela por uma correia de couro cru, trançada, a qual se dava o nome de brocha.”
Munhão é a parte do carro de boi, parte do eixo onde vai o cocão. Hugo de Carvalho Ramos em Tropas e boiadas o descreve: “Deixando atrás a longa trilha paralela do ferro das rocas, rolava um carro encosta abaixo, ao passo vagaroso da parelha de bois, o eixo lamuriando a distância ao atrito dos munhões, vindo das plantações do outro lado da baixada.”
Guaiaca é o cinturão usado em viagens, com divisões internas para guardar o dinheiro ou arma de fogo. Junta de boi significava dois bois unidos por uma mesma canga.




Ligal é o couro cru usado como cobertura dos carros de bois e cargueiros para abrigo da chuva e até mesmo como catre. Tolda é a cobertura de ligais de couro sobre o carro de boi. Visconde de Taunay, em belas cenas poéticas em Inocência, destaca o uso desse objeto: “Diante de si, lerdo e orelhudo burro, sobre cujo lombo se erguia elevada carga de canastras e malinhas, cobertas por um grande ligal.”
A cangalha também é muito importante e consiste em uma forquilha que se coloca no pescoço do boi ou da vaca para não vazar cerca de arame ou como parte da arreata do cargueiro. Sobre tal parte da arreata escreveu na busca de seu sentido popular a folclorista Regina Lacerda em seu livro Vila Boa, história e folclore: “Bate-se na cangalha para o burro entender – falar com alguém indiretamente.”
Fueiro é a parte de madeira destinada a segurar a carga e a esteira do carro de boi. Há no carro de boi o cambão, que e um pedaço de madeira, espécie de caibro de forma roliça que une as juntas de bois no cabeçalho do carro. Há termos ligados a este nome à questão do adultério: “pular cambão”, conforme destaca Bariani Ortêncio, mestre maior.
Azeiteiro era uma grande ponta de chifre, recoberta com graxa, geralmente feita com sebo derretido, tutano de boi, óleo de mamona que ficava dependurado no bnguê do carro de bois para lubrificar os cocões do eixo. Sobre este adereço escreveu Carmo Bernardes em suas saborosas crônicas no Jornal O Popular: “Dois soberbos carros de boi, sete palmos de altura, ferrados de pião, equipados com a esteira, o azeiteiro e a espera lá estão agasalhados do relento.”
A parte posterior da boiada chama-se culatra, conduzida pelo culatreiro, responsável por esta parte do rebanho. Culatra manca, segundo Bariane Ortêncio é o gado doente que fica mais atrás, exigindo cuidados redobrados.
Pique são entalhes nas pontas dos canzis onde são amarradas as brochas. Piseiro é o amassador dos bois para beber água em córrego ou bica d’águas. Malhador é o nome do local, fresco e arejado, onde o gado costuma descansar. Deu origem ao nome de Aragoiânia, que também foi chamada de “Biscoito Duro”.
Havia também a brabeza, que era o gado selvagem, criado solto, nos matos, socavões e grotas do imenso Goiás. Rosarita Fleury em seu romance Elos da mesma corrente, assim especifica esse tipo de gado: “Foi buscar brabeza! Pai pediu a ele que fizesse isso porque este ano não pode ir. Nosso gado está bem diminuído e no sertão há tanto!… Sei que ele está correndo risco e toda vez que lembro disso rezo para ele.”
Assim como as carroças, havia imposto também para os carros de bois:
Sobre a participação dele na Romaria do Divino, encontramos em escritos de Augusta de Faro Fleury Curado, Edmundo Pinheiro de Abreu e José Xavier de Almeida informações valiosas e descritivas da Trindade de antanho, assim como nas memórias do grande goiano Licardino de Oliveira Ney, primeiro e único prefeito de Campininha das Flores. Também, havia artigos de lei que delimitavam os preços para alugueis de animais de custeio.
Também aparece o carro de boi em extensa literatura telúrica de Goiás nas produções magistrais de Bernardo Élis Fleury de Campos Curado, Carmo Bernardes, Bariane Ortêncio, Hugo de Carvalho Ramos, João Accyolli, Pedro Gomes, além de muitos outros.
Tornou-se tradição, então, a presença do carro de boi na Romaria do Divino Pai Eterno, resgatando nossas legítimas tradições e mesmo depois do aparecimento do automóvel nas plagas goianas a partir de 1918, a Romaria do Divino continuou a única a ter, ainda, o legado do carro de boi nas ruas de sua cidade num período em que já imperava a transformação impulsionada pelo progresso.
Foi no final dos anos de 1980 que Benígno José Monteiro (Didi) e Pedro Alves de Moraes (Pedrão), iniciaram a Romaria dos carros de boi na gestão do então prefeito municipal Roberto Monteiro de Lima. A eles, Trindade muito deve nesse sentido.
Irmanados pelo espírito cristão os carreiros continuam mantendo acesa a chama da fé e da tradição, enfrentando toda sorte de intempéries, dificuldades, cruzam os sertões dos goyazes, buscando a luz bendita que irradia do Divino Pai Eterno, protetor da gente sertaneja.
Hoje, a Romaria ou desfile dos carreiros é a atração maior da Festa de Trindade, Meca sertaneja e cabocla do coração do Brasil. Em busca de novidades, os promotores criaram os carrinhos puxados por cabritinhos, carrinhos puxados por leitões, carrinhos puxados por cachorros e tentaram o pequenino carrinho puxado por gatos, mas os bichos espevitados e ariscos como o são, espatifaram, em segundos, o dito carrinho, em grandes pulos.
O boi é símbolo da força e da decisão. No nordeste colonial o boi era consagrado, diferente dos pampas que era o cavalo. Brincadeiras: Boi barroso, boi pitanga, boi mamão, boi de reis, boi na vara, boi santo, boi calemba.
Pela égide da Geografia é possível perceber que os animais foram importantes para a circulação dos bens de consumo em todo o grande sertão, ainda que sendo de forma lenta, desacelerada. Foram eles responsáveis pela integração nacional, houve uma inexistência de rede na formação de nossa nacionalidade, o que fomentou uma desvalorização do rural em relação ao urbano e promoveu o deslocamento de milhares de indivíduos para as cidades, na busca de melhores condições de vida.
E a lida carreira não era somente para homens de pouca instrução ou que não tinham outras possibilidades de ganho. O comendador Joaquim Alves de Oliveira, de Meia Ponte, hoje Pirenópolis, fundador e pioneiro da imprensa em Goiás e o senador Antonio Amaro da Silva Canedo (Senador Canedo) foram também carreiros em seus tempos de atuação nas fazendas de suas regiões.
Animal dócil, carregado de telurismo, o boi tem sentimentos, tem sensações próximas aos dos humanos. De fato, o boi chora. O gado chora ao perceber dentro da boiada outro boi morto.
O boi, dentre todos os animais é o mais forte, o mais pesado, o mais lento, aquele que suporta os penares. Sua marca fica indelével na história goiana.
E todos os animais, com seus cansaços e dores, sustentaram nossa economia em tempos primitivos merecem nossa lembrança. Bois, cavalos, éguas, burros, mulas, jumentos, cabritos, caminharam lentamente com suas cargas e sofrimentos, ombreando com o homem a luta pela sobrevivência nesse sertão de Goiás.
Poeticamente eles todos passam dentro dos meus olhos e seguem numa grande tropa, a caminho do céu!
(Bento Alves Araújo Jayme Fleury Curado, graduado em Letras e Linguística pela UFG, pós-graduado em Literatura Comparada pela UFG, mestre em Literatura pela UFG, mestre em Geografia pela UFG, doutorando em Geografia pela UFG, escritor, professor e poeta – [email protected])