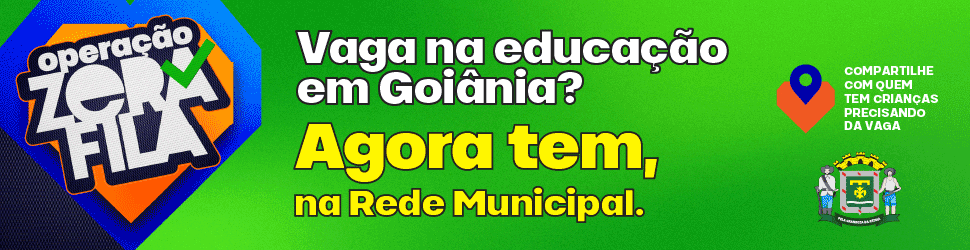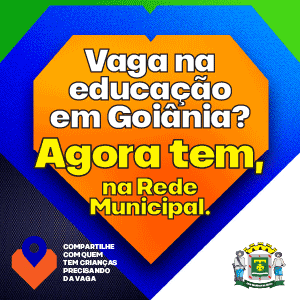Conceitos básicos e fundamentais sobre o surgimento da educação na filosofia
Redação DM
Publicado em 9 de fevereiro de 2018 às 21:44 | Atualizado há 7 anos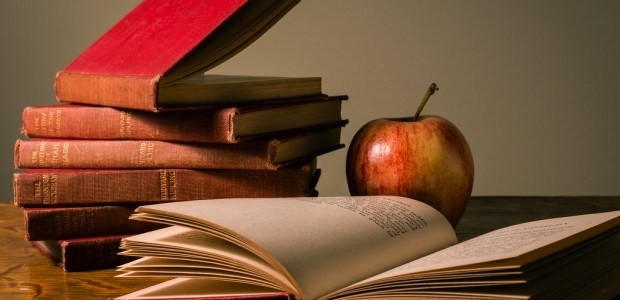
No que concerne à educação, somos todos contribuintes de um conhecimento que se baseia na filosofia, abrangendo os sentidos e fundamentando-se na criticidade, ou seja, na defesa das opiniões com argumentos rigorosos, claros e sistemáticos, não cometendo falácias nem se baseando em jogos de palavras e em maus argumentos de autoridade. Assim, a busca de uma educação filosoficamente estabelecida, consiste na interligação entre a Educação e a Arte do pensar.
Desde o século VI a. C. quando ocorreu o surgimento da Filosofia, ela foi posta como uma nova ordem do pensamento, não definindo assim, o que seria, de fato, essa nova ordem, nem se seria suficientemente filosófica. O que havia era simplesmente a liberdade de expressão ou de pensamento e é nela que se encontra a absoluta e constante busca pelo aprender a filosofar. Como diz Immanuel Kant (1724 – 1804), “Não há filosofia que se possa aprender, só se aprende a filosofar”. (PILETTI 1991).
A relação entre Filosofia e Educação existe desde os antigos gregos. Em busca de um aperfeiçoamento humano, foram eles que deram início às discursões sobre a Filosofia da Educação, buscando uma inovação e um novo sentido no mundo. Diante desse acontecer histórico, as dúvidas que antes existiam, por ausência de esclarecimentos, foram, paulatinamente, contribuindo para as transformações qualitativas na sociedade, por mais que ainda houvesse reservas naquela época. Nesse sentido, torna-se inteiramente necessária a discussão e o posicionamento da Filosofia nos cursos de formação de professores, para que, os profissionais da educação, possam dar novos conceitos às práticas docentes.
Certamente a Filosofia como arte e trabalho de pensar, refletir, raciocinar, e, assim, despertar o senso crítico e, consequentemente, responsável por buscar uma nova maneira de pensar o mundo, traz em todo o seu desenvolvimento, a Educação como forma de mudança e de visão da sociedade. Como exemplo desse processo desencadeante sobre essas tendências, temos alguns pensadores que foram de suma importância para o crescimento e desenvolvimento no que se refere às suas ideias incorporadoras às práticas pedagógicas, à organização do sistema escolar, ao conteúdo dos livros e ao currículo docente. Entre eles estão: Sócrates (469-399 a. C.), para quem os jovens deveriam ser ensinado a conhecer o mundo e principalmente a si mesmos KLEINMAN, (2014). Platão (427-347 a. C.), que o conhecimento só poderia ser alcançado num plano ideal e que nem todos estariam preparados para esse esforço. No entanto, enfatiza que a educação deve ser apontada na obtenção do conhecimento do bem e da verdade, além de afirmar, que aprender, também é recordar KLEINMAN, (2014). E Aristóteles (384-322 a. C.), discípulo de Platão que inverteu as prioridades e defendeu o estudo das coisas reais como meio de adquirir sabedoria e virtude KLEINMAN, (2014).
Nesse ponto, o que torna os casos de Platão e Aristóteles diferentes, são os momentos em que ambos trabalhavam. Um mencionava a educação num mundo mais idealizado e subjetivo, e o outro trabalhava numa perspectiva realista e com mais precisão. Este foi o ensino que se tornou mais acessível a um número maior de pessoas. Foram com certeza, os três primeiros filósofos que deram margem a um processo que provocou o desenvolvimento da condição humana em relação à natureza e à sociedade no que tange a educação.
Inovações
educacionais
Historicamente, a educação vem sofrendo modificações, que por sua vez, visam torná-las mais adequadas à realidade. E é nesse aspecto que a Filosofia, no convívio com o homem, e da sua ação, começa a estruturar sua realidade, diferenciando principalmente o senso comum, que trata de uma educação incoerente, de formação fragmentada, do senso crítico, que traz certezas e aspectos mais concretos de unidade e articulação. Entretanto, compreende-se que a Educação, aquela que dar base à estrutura humana, está inteiramente aberta a questionamentos.
Assim, do ponto de vista fundante, pode-se dizer que a Filosofia da Educação constrói uma imagem e visão do homem, enquanto sujeito fundamental da educação, dando a ele os direitos e deveres apropriados. Isso porque: “A educação deve instrumentalizar o homem com um ser capaz de agir sobre o mundo e, ao mesmo tempo, compreender a acção exercida. A escola não é a transmissora de um ser acabado e definitivo, não devendo separar teoria e prática, educação e vida. A escola ideal não separa cultura, trabalho e educação.” (ARANHA, 1996). De qualquer maneira, os direitos humanos são essenciais, ainda que existam diferenças entre as culturas e que num determinado país é engrandecido os valores do espírito e noutros são dado maior atenção às grandezas materiais, como por exemplo: o emprego, o bem-estar social, a habitação.
Desse ponto em diante, a educação passa a ser vista de maneira mais clara em alguns ramos da Filosofia, que infelizmente muitos não conhecem ou não costumam relacioná-las. São elas: a linguagem, o conhecimento de si e do outro, a sociedade, a cultura entre outros. Isso nos faz questionar como associar esses conceitos dentro da filosofia. É com ela, com seu modelo reflexivo, partindo é claro, de dados das demais formas de conhecimento, que os seres humanos obtém suas respostas.
Quando se parte para conceitos que abrangem toda e qualquer forma de expressão, seja ela: escrita, falada ou não-verbal, estamos lidando com a forma de conhecer através da Filosofia da Linguagem, que nada mais é “que a compreensão de como o significado surge das partes que compõem uma sentença” (KLEINMAN, 2014). Nesse sentido, Górgias (485-380 a. C.) exemplifica claramente esse significado linguístico: “a linguagem fundamenta-se no poder das palavras. Para tal, demonstra a não-culpabilidade de Helena na Guerra de Troia. Argumenta que Helena foi raptada contra sua vontade, mas não com violência, pois teria sido seduzida pelas palavras de Páris. Usando com destreza a linguagem, pode-se produzir modificações físicas em que escuta: rubor, medo, simpatia, antipatia etc.” (NICOLA, 2005)
Continuamente, quando partimos do ponto de vista filosófico em relação às questões do ser-em-si e o que o envolve, no verdadeiro sentido de existir humanamente, tratamos de uma investigação que vislumbra, basicamente, da Antropologia Filosófica, Antropos, no grego, significa “ser humano”, outro ramo da educação da filosofia que irá dar base à estrutura essencial do homem.
E no que tange a sociedade e na ação do encaminhamento para o bom funcionamento social, traremos aqui reflexões envolvendo um outro aspecto, que conhecemos como: Filosofia Social e Política. Contudo, pode-se ver que nos mais diversos ramos da educação, a Filosofia sempre está presente na condução e no aprimoramento do conhecimento que se desenvolve a cada passo de uma nova descoberta. E é nesse momento marcante que podemos perceber que existe, de fato, uma interligação entre a Educação e Filosofia que doravante as gerações hão de ser mais importantes e mais necessárias na formação e na prática do educador, num assunto intrínseco e envolvente chamado de Filosofia da Educação, fazendo-se entender que a Filosofia é a base fundamental que faz despertar no educador, maneiras de buscar novos horizontes e fazer com que o crescimento educacional se firme enquanto consciência filosófica, ou seja, que trabalha numa concepção de total coerência.
O conceito da ética na educação
A ação ética na matéria educacional tem sido objetos de frequentes reflexões. A busca do filosofar nesse aspecto, no âmbito educacional, torna-se inteiramente essencial quando almeijamos o uso correto do ensino e aquilo que desperta emoção por meio da contemplação.
A Ética, do grego, “ethos”, que quer dizer aquilo que pertence ao “bom costume” ou “portador de caráter”, em seu aspecto educacional, tem por objetivo formar indivíduos conscientes de seus deveres e direitos dentro de uma sociedade. Muitas vezes a educação é entendida e exercida somente como um processo de acumulação de informações, ou seja, como um processo de ensino limitado e essa forma mecânica de ensinar produz um efeito de repetição por parte do educando, tornando-os, na maioria das vezes, incapaz de desenvolver suas próprias habilidades através de um bom aprendizado. Sempre que aqui se falar em educação, estar-se-á fazendo referência a um grande percurso profundo e com muito comprometimento das potencialidades humanas. Assim, obtemos um ser educado na medida em que ele for crescendo em todos os pontos de vistas, ou seja, quando for possível perceber sua flexibilização em suas múltiplas faces de um ser material, espiritual, biológico, ético, estético etc. portanto, só podemos aproximar e Educação e a Ética se construirmos esse conceito e darmos esse sentido. É mister saber que a busca de uma educação apontada por aspectos éticos, nunca se dará de forma absoluta e inteiramente completa. Estamos lidando com a condição humana e faz parte dela a não-perfeição e a não-completude, e é por isso que se fala numa aproximação entre a Educação e a Ética. Já no âmbito escolar, a ética vai muito além do que uma mera explanação formal. Nesse caso exige-se um aprofundamento, um diálogo que não ilustra o conteúdo com fórmulas decorativas, é necessário uma sensibilidade que vem através de uma reflexão ética, motivada pelo desempenho dos educadores fazendo com que a soma dos acertos sejam maiores do que os equívocos e de erros que comprometem os educandos. Esse incentivo ético é tarefa da educação consciente geradora de concepções positivas e de ações realizadoras.
Ética e ação
É na ação que se consegue vislumbrar e construir a prática educativa de forma mais ética possível. Desenvolver pessoas, convivendo com suas diferenças, culturas, modos… é a forma mais sublime de conhecer a ética e construí-la por excelência. Sendo assim, é nesse sentido profundo da educação que se chega ao alcance pleno dos objetivos da ética.
Para Hanna Arendt (1906 – 1975), “não há vida humana sem ação e sem discurso” (2007, p. 189). A verdadeira educação se torna ação quando ficamos diante do imprevisível, quando nos abrimos a um novo aprofundamento fundamentado no crescimento e no desenvolvimento humano. O ser é uma eterna ação que, através de sua educação, o torna um ser complacente ou não.
O engajamento ético, portanto, resulta de uma profunda consciência dos valores implicados nos atos humanos. Somente esta consciência poderá resultar em um verdadeiro comprometimento com uma postura ética fundamental. É preciso, desde logo, reafirmar que não haverá espontaneísmo nesta construção, mas será necessária uma interação entre a educação e a ética, ao longo de todo o processo educativo. Isto quer dizer que todo o processo educativo precisará ser iluminado pela perspectiva ética para se constituir em um pleno processo de humanização. Os educadores precisam se movimentar, em sua prática educativa, administrando possibilidades éticas em um contexto impregnado de moral. Isto quer dizer que os desafios para sua eticidade se veem condicionados pela obrigatoriedade de se submeterem à normas das mais diversas e, por vezes, de pouca significação. Submetidos assim à contingências não-éticas, acomodam-se em legalismos que pouco ou nada acrescentam ao verdadeiro sentido educativo.
Desenvolvimento da educação e da ética no trabalho
A atividade humana se expressa através do trabalho. O trabalho se constitui na construção de coisas marcadas pela durabilidade, mesmo que relativa. O homo faber, de acordo com a divisão das atividades humanas elaborada por Arendt (2007), dedica-se à fabricação dos objetos de uso, por ela denominados de artifícios humanos. É através da fabricação que o homem assume o domínio da natureza e a submete, criando condições para nela se instalar com mais conforto. Arendt (2007) apresenta o trabalho através do qual são fabricados os artefatos que, a princípio, são construídos para facilitar a vida humana, como uma atividade que também apresenta ambiguidades de toda ordem. Apresenta, em primeiro lugar, a obsolescência dos artefatos construídos. A fabricação se caracteriza pela durabilidade dos seus produtos.
Diante desta realidade descrita e inspirada nas análises de Arendt (2007), colocam-se as questões da educação e da ética. Voltando aos pressupostos iniciais de que é a educação um dos instrumentos que refletem esta realidade e também a reproduzem, qual é o papel que ela assume neste contexto relacionado ao mundo do trabalho? Quais implicações éticas se ajustam a uma proposta educativa cujos objetivos são determinados pelas exigências de um mundo de produção e de consumo? É preciso lembrar que o mundo do trabalho que se apresenta na atualidade é profundamente marcado pela ideologia que perpassa todos os movimentos humanos. Vivemos numa sociedade globalizada e neoliberalizante. Os valores que a direcionam são impostos pela ideologia do liberalismo. Esta ideologia precisa ser compreendida para que se busquem caminhos para uma travessia mais humanizadora.
O desafio que se impõe, nesta época marcada por profundas e desconcertantes incertezas, é como estabelecer uma relação entre as exigências da ética e os valores sobre os quais se estriba uma sociedade globalizada e neoliberalizante. Um dos elementos básicos da globalização é que a comunicação de massa se transforme em instrumento, não de massificação alienante, mas de relações criativas e humanizadoras entre os povos.
Em todo o mundo se dissemina uma consciência cada vez mais clara de que a globalização da miséria e da exclusão de povos inteiros é algo cada vez mais inadmissível. Generaliza-se o clamor por uma nova ordem social que contemple as condições mínimas de cidadania para todos os habitantes do planeta. Não são mais guetos isolados a sofrer a sua exclusão e escravização de forma silenciosa e ignorada. É uma concepção positiva da globalização que acena para um novo horizonte de respeito aos direitos humanos e o reconhecimento da alteridade das pessoas e dos povos excluídos (SIDEKUM, 2001, p.188).
Arendt (2007) conclui o capítulo sobre o trabalho dizendo que o que é certo é que a medida não precisa ser nem a compulsiva necessidade da vida biológica e do labor, nem o instrumentalismo utilitário da fabricação e do uso (p. 187).
Filosofia da
educação
Uma das tarefas básicas da Filosofia da Educação é o de propor aos educadores que conhecem e analisem as concepções filosóficas presentes nas práticas e nas teorias educacionais e que façam uma avaliação crítica delas. Este conhecimento e esta avaliação crítica possibilitam que não sejamos ingênuos nas nossas escolhas educacionais.
Sem sombra de dúvidas, a Filosofia da Educação é uma das primeiras e mais importantes tarefas, a partir da caracterização da filosofia, que analisa e esclarece o conceito do que é “Educação”. Muito se fala em Educação. “Todos têm direito à Educação”, “que ela é um bom investimento”, “um caminho para um futuro melhor” … Porém, que educação é essa que tanto se fala? Será que todos os que falam sobre a educação usam o termo no mesmo sentido, com significação igual? É notável que não. Ela é a responsável por transmitir os conhecimentos? É a educação que prepara para uma cidadania democrática inteiramente responsável? E sobre as potencialidades dos indivíduos, é ela quem desenvolve? É a educação, o adestramento para o exercício de uma profissão? As respostas dadas a essas perguntas, em sua grande maioria, são conflitantes, muitas vezes incompatíveis, por parte de quem se preocupa em responde-las. Este é um fato que por si só, aponta para uma grande necessidade de reflexão ordenada e aprofundada sobre o que realmente seja a educação, isto é, sobre o conceito propriamente dito de educação.
Quando se dá início ao processo de perceber o que deve tornar claro e evidente no que se refere à educação em forma de conceito, estamos diante de um desafio complexo e muito vasto. No que tange à educação, é envolvido não só o esclarecimento das relações que nela existem, por exemplo: educação e conhecimento, educação e democracia, educação e as chamadas potencialidades do indivíduo, educação e profissionalização. Circunda, também, de forma extremamente clara, as relações que podem perpassar entre o seguimento educacional e outros processos que de forma menos evidente, transmite um dever em relação ao desenvolvimento educacional, como: socialização, doutrinação, aculturação, treinamento, condicionamento e assim por diante. Tendo como ponto de partida uma análise criteriosa que sirva de objeto de esclarecimento dessas noções, da aplicação de seus critérios, das suas aversões e da relação entre si e com os outros conceitos educacionais, é função da Filosofia da Educação e é condição necessária para o desligamento do conceito de educação.
É a partir dos estudos filosóficos que são verdadeiramente efetivados a validade da Filosofia da Educação. Saber transmitir a correlação de pensamentos clássicos ou discutir superficialmente temas desengatados da prática pedagógica, não efetiva a reflexão e compreensão dos aspectos educativos. Além do embasamento do estudante, é necessário uma base cultural de qualidade que seja comunicativa e reflexiva ao ponto de proporcionar o entendimento hermenêutico do principal papel da filosofia na educação. Não obstante, a adequação de um saber crítico, mediado intersubjetivamente voltada às inovações da filosofia contemporânea, pode proporcionar o desocultar das aversões sistêmicas e racionalistas, dando rumo às novas competências nos enquadramentos da formação humana, assim como os novos caminhos de entendimento no ato de educar.
A filosofia da educação, no seu acontecer histórico, esclareceu muitas dúvidas, contribuindo para transformações qualitativas no meio social. É de suma importância retomar e principalmente discutir o valor do filosofar nos cursos de formação de professores, para que haja, nos futuros profissionais da educação, novas fórmulas de significados às práticas docentes. No momento em que existe um senso que não pode mais simplesmente mostrar o modelo de ensino ideal ou lógico de filosofia, coloca-se a possibilidade de reenviar as propostas pedagógicas a partir da identificação intersubjetiva e hermenêutica de conjugação entre a filosofia e a prática educativa. Sob esse olhar, os métodos de ensino vislumbrariam não somente a teoria filosófica, mas a sua reflexão com a problemática educacional, dando a possibilidade de comunicar e articular os conhecimentos. Na afirmação de Dermeval Saviani (1943): “Acreditamos, porém, que a filosofia da educação só será mesmo indispensável à formação do educador, se ela for encarada, tal como estamos propondo, como uma reflexão (radical, rigorosa e de conjunto) sobre os problemas que a realidade educacional apresenta” (2000, p.23).
Na vivência das práticas filosóficas, o próprio filósofo deve dar margem para que as pessoas diante das dificuldades, tenham o dom da resposta reflexiva e não com ideias já formadas. E é através dessas dificuldades que a realidade educacional mostra ao educador, que este não deve abrir mão da reflexão da filosofia. Parecem naturais as relações que há entre Filosofia e Educação. Enquanto a Educação se expressa com o desenvolvimento dos jovens e das novas gerações de uma sociedade, a Filosofia é refletida sobre o que e como devem ser ou desenvolver estes jovens dentro da sociedade. A Filosofia dá à Educação momentos de reflexão sobre a sociedade na qual está situada. Inter-relacionando Filosofia e Educação, existem duas opções: ou o pensamento é reflexivo sobre o que se faz, realizando uma ação educativa consciente, ou não se reflete criticamente e oferece uma pedagogia que gera obscuridade e opacidade na existência da cultura vivida diariamente, fazendo uma educação desmerecida e de nível extremamente baixo.
No espaço e no tempo, a Filosofia e a Educação estão inteiramente vinculadas. Não há possibilidade de fugir dessa “fatalidade” existencial. Dessa forma, nada mais válido e mais proveitoso para os apreciadores das respectivas áreas, do que fazer uma junção de maneira consciente, como bem cabe a qualquer um. Essas maneiras de ensinar a Filosofia da Educação não estão livres de conjecturas sobre a significação do verdadeiro sentido do ensino-aprendizagem da filosofia, assim como sobre suas relações com a educação. Trata-se, basicamente, de envolver no outro um saber prévio, que permitirá um entendimento mais crítico sobre o educar, ou mesmo identificar o verdadeiro valor da filosofia na educação. Assim, a Filosofia da Educação se faz num exercício que não explica, não legitima, não consolida. Foge da tentação de construir-se como lei e como verdade absoluta. Pelo contrário: Interroga e polemiza. Impede que o ensino seja retrógrado, impede que o pensamento sobre a educação não seja como de outrora. Permite pensar, ser e ensinar de outro modo.
Referência
PILETTI, Claudino. Filosofia da Educação. 3 ed. São Paulo: Ática, 1991.
KLEINMAN, Paul. Tudo que você precisa saber sobre filosofia: de Platão e Sócrates até ética e metafísica, o livro essencial sobre o pensamento humano. São Paulo: Editora Gente, 2014.
ARANHA, Maria Lúcia Arruda. Filosofia da Educação. 2a Ed. São Paulo: Moderna, 1996.
NICOLA, Ubaldo. Antologia Ilustrada de Filosofia: das Origens à Idade Moderna. Tradução de Margherita De Luca. São Paulo: Globo, 2005.
ARENDT, Hanna. A Condição Humana. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007.
SIDEKUM, Antônio. O Traço do Outro: globalização e alteridade ética. Filosofia
Unisinos, São Leopoldo: Unisinos, v. 2, n. 3, Dez/2001, p. 188.
SAVIANI, Dermeval. Educação: do senso comum à consciência filosófica. 13 ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2000. p.23.
(Otainan da Silva Matos, professor, graduado em Filosofia pelo Instituto de Estudos Superiores do Maranhão, pós-graduado em Filosofia Contemporânea pelo Instituto Souza de Minas Gerais, em São Luís do Maranhão)