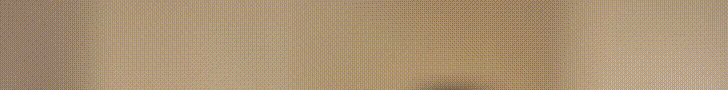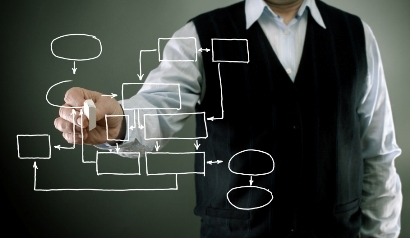Conversa afiada
Redação DM
Publicado em 22 de junho de 2017 às 22:33 | Atualizado há 8 anos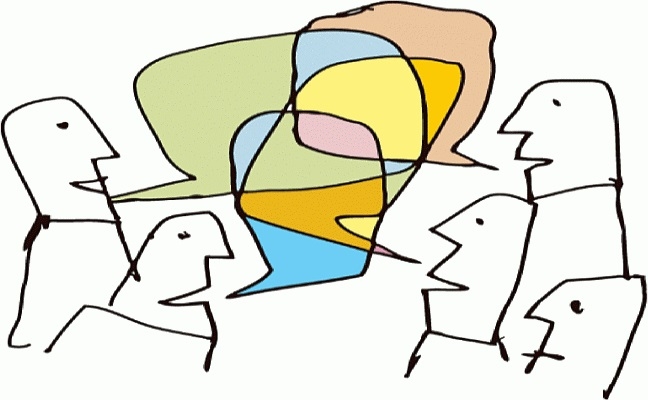
Sou adepto do ditado que queda d’água em pedra dura tanto bate até que fura, por isso continuo insistindo nos jogos de números. Mesmo nunca tendo tirado a sorte grande, gosto de estar envolvido, pois só ganha quem joga. Certo é que é o modo mais fácil e ao mesmo tempo o mais difícil de se enricar, pois o trabalho que se tem é o de preencher os volantes. A parte difícil (e quase impossível) é ser contemplado…
Não obstante, só de pensar que a vida pode mudar de um instante para outro da água para o vinho, de esperança vou vivendo. Na lida humana, para alcançarmos a desejada felicidade – termo envolto nas brumas da indefinição -, passamos pela realização financeira ou amorosa, ou por ambas ao mesmo tempo. (Sem menosprezar a cultural, de suma importância). Não me engabela o ramerrão de que o dinheiro é desafeto da felicidade, capciosa falácia. Fosse assim, todos viveriam escorados num barranco, vendo as águas da felicidade rolarem…
Colocado este preâmbulo, vamos realmente ao que interessa no contexto. Encontrava-me em uma casa lotérica fazendo minha fezinha, quando encontrei um amigo que lá também estava com a mesma intenção. Escolhidos os números, ocupamos nosso lugar na longa fila. Entre outros assuntos a conversa descambou para a questão do trabalho.
– Trabalhando muito?
– Nem me diga. Trabalho pra morrer e não vejo resultado.
– Quem sabe não acerta na Mega e sai dessa?
– Outra ilusão. Jogo de teimoso.
– A esperança é a última que morre. Nunca desista, amigo.
Uma senhora que estava também na fila, em nossa frente, carregava seu corpanzil obeso, tinha ar de cansaço quando falava. Arfava deveras. Puxando bastante o ar, entrou na conversa dizendo que já se cansara de correr atrás do dinheiro.
– Não vale a pena, pois para que tanta correria para ganhar a vida se caminhamos para a morte… Há muito tempo parei de jogar em jogos de números, cansei-me. Venho numa casa lotérica somente por precisão mesmo, para pagar meus carnês. Já meu falecido não saía de dentro de uma, era dado a jogos de números. Jogou, jogou, jogou. O que deu? Morreu pobre! O que a gente leva dessa vida? Nada, nada. Caixão, meu amigo, não tem gaveta… Pois olhe, eu agora me contento com o que tenho, se bem que não tenho quase nada mesmo. Mas o que tenho, basta-me. Minha aposentadoria, dando para as necessidades, comer e comprar meus remedinhos… Tá passando de bom. Meus filhos, bem, já estão cuidando lá da vidinha deles. Para eles, virei bicho do mato, morando numa oca, onde não possam me visitar. Me incomodo? Não deixa pra lá… Deus escreve certo por linhas tortas… Tudo bem que eu viva isolada. Estou conformada. Felizes são os índios, vivendo em contato com a natureza e sendo muito felizes. Não acham? (Nessa pergunta pensei que ia dar espaço para resposta, mas continuou). Aquilo é que é vida! Preocupam-se com dinheiro? Nós é que vivemos nos matando à procura dele… Se dinheiro é bom? Claro, mas não é tudo. Conheço muitas pessoas podres de rica que são tristes, doentes, imersos na depressão. Inclusive…
Notei, quando fiz a interpelação mental, que a aludida senhora arfante era dado a monopolizar a palavra, não dando espaço a interpelações. Meu amigo só ouvia, balançando a cabeça de vez em quando à guisa de aprovação. Eu particularmente, detesto pessoas falantes demais, principalmente as que não nos deixam espaço para intervenções, chamando a atenção o tempo todo para si.
Por isso, lembrei-me de décadas atrás, de um vizinho bem idoso que eu tinha. Gostava demais de uma prosa, mas não permitia que o interlocutor falasse. Descendente de alemão, adorava falar de história, das guerras e do nazismo. Dizia ter um livro já publicado, que tratava da destruição do planeta pela ação do homem. Prometera-me um exemplar, mas nunca chegou em minhas mãos. Eu o ouvindo pacientemente como a um oráculo.
Como sempre muito educado com os mais idosos, eu não podia melindrá-lo, ademais não podia faltar ao respeito com suas cãs brancas nem com a sua erudição. Certa vez, depois de ter falado à exaustão sobre como a Terra seria banida do espaço, não deixando brecha de um segundo sequer para que eu o interrompesse, repentinamente zangou-se comigo.
– O senhor é por demais esquisito, parece uma múmia paralítica! Não venho mais aqui gastar meu precioso tempo! Não diz nada, enquanto só eu quem fala. Ora bolas! Passar bem.
Mas voltemos à senhora obesa e arfante. Antes que ela continuasse a tempestade de palavras após o “inclusive” teve de se interromper. (Graças ao bom pai foi chamada pelo caixa.) Atos seguintes, eu e meu amigo.
Depois de feito as apostas, quando eu já ganhava a calçada para chegar ao meu carro, eis que fui interpelado pela senhora obesa que me alcançara. Arfando, segurou-me pelo braço, o que impedira meu ritmo normal do caminhar. Falava e arfava. Arfava e falava.
Agora eu, ao lado dela, caminhava a passos de tartaruga, os poucos metros que faltavam do carro pareciam léguas de distância. Quando tentava acelerar os passos, ela me segurava novamente pelo braço, fazendo-me estacar. Putz! Pensei. Nunca fui grosseiro, e ainda mais com senhoras. Assim, pus-me a ouvir, ouvir, ouvir… Era o recurso, vez que ela não dava abertura para que ao menos eu ajeitasse uma desculpa para me safar dali.
Enfim, cheguei ao carro com a senhora a tiracolo. Acionei as trancas, pensando que com este ato ela ligasse o desconfiômetro de que o melhor para ela era partir, deixando que também eu me escafedesse. Qual nada! Ela mais do que nunca destrancara falação. Pior que falava de pessoas que eu jamais vira na vida. Quase lhe disse que nem mesmo gostava de reality show, por se tratar de fofoca de vidas alheias e estranhas a mim, mas ela não dava espaço de um beiço de pulga para que eu entrasse com minha fala.
O assunto então descambou para os rumos intrincados de herança e seus espólios.
– Não sei se o senhor se recorda de um cantor famoso… Um que faleceu há uns três anos… Qual era mesmo o nome dele? (Antes que eu desse minha resposta, ela mesma respondera…) Não me recordo. Essa minha cabeça não anda valendo nada. Dia desses fui a um médico para ver isto. Sabe o ele me disse? (De novo a deixa, mas o sinal se fecha antes de um piscar de olhos…) Para eu me envolver com leitura, que era bom para a memória. Ai, que não suporto! Minhas vistas doem, vem-me um sono esquisito… Mas do que estava falando? Ah, sim do cantor que falecera. Qual era mesmo o nome dele, meu Deus!? Bom, deixa pra lá. O fato é que, a partir de sua morte, instalara-se a refrega entre os familiares por causa da herança deixada por ele. Sabe como é, né? (Eu sabia, mas a sua pergunta fora só proforma…) Sempre um espertinho surge de última hora querendo levar vantagem, tirar um naco do bolo. Sem contar os terceirizados: genros, noras e até cunhados, dando seus palpites e querendo entrar no espólio. E os herdeiros de última hora, que ninguém sabe de onde saiu? (Olhei para cima, com o olhar suplicante, para ver se ela tivesse piedade…). Aparecem ainda no velório, dizendo-se filhos clandestinos, alguns já com o comprovante de DNA em mãos… Por que não apareceram antes para cuidar do moribundo? (Ao olhar para cima, vi nuvens negras…). Veja o senhor: minha mãe, pobrezinha que vive acamada, já apareceu algum genro ou nora lá em casa para dar banho nela, trocar fraldões, penteá-la, fazer-lhe um carinho ao menos uma vez na vida? (Sim, ameaçava chuva…) São uns abutres que ficam dando voltas sobre o doente, só esperando a hora chegar. Mas dali, se depender de mim, não sai um centavo sequer. Uma nora, já se achando no direito, estava a levar um vaso, relíquia que minha mãe guardava desde o início do século passado. Falei na cara: daqui ninguém leva nada. Se insistir, espatifo-o no chão agora! Não é um disparate? (Um raio corta o ar, em seguida o baque ensurdecedor de trovão…). Meu Deus, o assunto está ótimo. Mas aí vem água. Nossa, o céu escureceu de tudo! O senhor me desculpe deixá-lo falando sozinho, mas tenho de ir. Obrigado pela atenção.
Temendo que ela me pedisse carona até sua casa, depois insistisse que eu entrasse, para conhecer sua mãezinha de 90 anos de idade, sentar-me no sofá para mais uma longa sessão de tortura, ou melhor, de conversa afiada (eufemismo, para ser gentil), mais que depressa entrei no carro e dei partida rumo ao meu silêncio interior.
(Joaquim de Azevedo Machado , professor e escritor – jazevedo@hotmail.com.br)