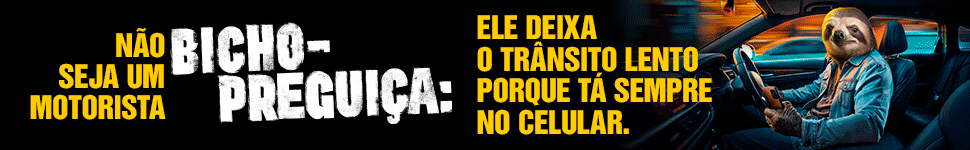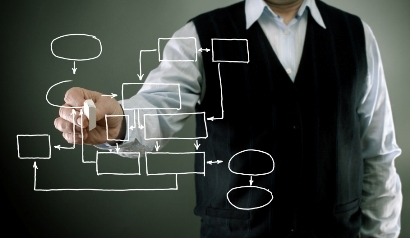Memórias de infância e adolescência
Redação DM
Publicado em 1 de março de 2018 às 22:12 | Atualizado há 7 anosJosé Ferreira Silva, funcionário do IBGE, como agente estatístico, foi licenciado a partir de 1º de fevereiro de 1954 para exercer o mandato de prefeito de Araguatins. Vou tecer considerações sobre minha vida como araguatinense e, acima de tudo, sobre meu pai e familiares, no contexto do encontro que promoveremos sobre os cidadãos e cidadãs daquele cidade.
“Elogiado coletivamente pelo entusiasmo e eficiência demonstrados nos trabalhos preparatórios para a realização do VII Recenseamento Geral do Brasil, possibilitando o início em todo o Estado”,é a referência elogiosa a meu pai, conforme se pode ler no jornal do IBGE, editado em 01/09/60.
Minha mãe Anália Monteiro Silva lembra que meu pai era um homem muito sábio, autodidata. Lia bastante, oratória e textos bem redigidos.
Escrevia discursos para vários políticos da região. Também fazia anúncios numa amplificadora (tipo mega fone), nos finais de tarde. Era como programa de rádio, informando as principais notícias que recebia de Goiânia, através de jornais e revistas que chegavam para ele, muitas vezes já atrasadas, pois os meios de comunicação da época era o correio e mesmo assim não era diariamente.
Lembro-me de uma simples, mas vasta e bem organizada biblioteca, numa parte da sala. Os livros encapados com papel pardo, numerados e catalogados.
Tinha assinatura de várias revistas e jornais, dentre elas “Seleções”.
A professora Beatriz também repassava os conhecimentos aos seus alunos e às pessoas de seu relacionamento.
Apaixonado por terra e roça, ele teve também um sítio, Ponta de Mato. Por muito tempo se dedicou, até a sua mudança para Goiânia em 63, a cultivá-lo.
Em janeiro de 64, numa viagem a serviço pelo IBGE, morre em um acidente aéreo na região nordeste do Estado.
Outra característica marcante do meu pai era o cuidado e zelo excessivo, muitas vezes exagerados demais para com os filhos.
Lembro-me que ele levava meu irmão José Carlos. Ele me levava para tomar banho no Araguaia, no porto do Gorgulho. Ele dava banho em um, enxugava e colocava sentado. Depois dava banho no outro. Repetia o ato e colocava um do lado do outro. Depois dos filhos banhados, aí que ele entrava na água para tomar o seu mergulho. E de lá, ficava olhando nós dois sentadinhos. Nunca entrava com os dois juntos para o banho (medo de afogamento). Sempre era um de cada vez.
Também aprendeu aplicar injeção, para ele mesmo fazer isso quando a gente precisava das “agulhadas”.
O estojo era de metal e esterilizado no álcool e fogo.
Quando estava gripado, improvisava uma máscara de pano, para evitar o contágio através de um possível espirro.
Ele nos ensinou a lavar as mãos várias vezes ao dia, esfregando uma na outra, com muita espuma entre os dedos até o cotovelo.
Nossa água de beber era coada e fervida. Depois de fria era colocada em moringas de barro ou numa jarra própria para isso.
Também sabia fazer “tipóias”de talas de buriti, que colocadas lado e lado e amarradas, serviam para imobilizar o braço ou perna de alguém que tivesse uma fratura. Eram chamadas de “encanados”. Dizia-se então: fulano está com o braço encanado.
Anos depois conheci o gesso, que nos grandes centros era usado para curar fraturas.
Seu José Silva encanou braço e perna de muitos de Araguatins. Para a família ele foi um médico prático, pois era estudioso e pesquisava sobre alguns problemas, sabendo administrar medicação para doenças mais simples.
Da infância em Araguatins lembro de várias coisas como as casas e quintais “enormes” (hoje não tão grandes), às margens do ribeirão Taquari.
Uma vez, no colo do meu pai, tirei uma das sandálias e joguei no Taquari, e quando a correnteza começou a levar, gritei para o meu pai: olha lá e lá se foi o sapatinho indo rumo ao Araguaia, onde o riacho desembocava.
Outra passagem foi quando minha mãe Anália correu para me alcançar, atravessando o “largo” da cidade. Ela estava grávida de quase nove meses. E caiu no meio do largo por cima de um pedregulho existente. Vários homens correram para socorrer-la e levá-la para casa (eram trabalhadores dos castanhais da região). Meu irmão José Carlos nasceu dois dias depois. Felizmente, tudo transcorreu bem.
Minha mãe e meu pai tinham como diversão jogar baralho com os meus tios Pedro e Benvinda. Quando voltavam da canastra, a cidade já sem energia, pois a luz já tinha acabado (falavam assim), meu pai me levava nos braços, dormindo, e minha mãe do lado com uma lamparina para clarear a travessia do largo, que hoje é a Praça dos Pioneiros, em frente a igreja de Araguatins.
Chupei bico (ou chupeta) até bem grandinha e não largava por nada.
Meu pai, antes de uma longa viagem, teve uma conversa comigo. E me fez uma proposta inesperada. Se eu deixasse a chupeta, ele levaria uma caixa de bombons com muitas guloseimas. Prometi a ele que deixaria o bico.
Ele viajou e eu fiquei na expectativa. Quando ele chegou de viagem eu e a minha mãe fomos ao porto esperar ele desembarcar.
Lembro-me que ali mesmo quando nos abraçou e beijou, ele me entregou uma caixa linda, bem colorida, com alças para carregar e cheia de doces, balas, pirulitos e outras iguarias. E eu, cumprindo o combinado, entreguei a chupeta para ele e nunca mais perguntei por ela.
Ele tinha uma bicicleta, na realidade haviam poucas na cidade, e nos levava para passear nos finais de tarde pelas ruas à beira do rio.
Minha mãe Anália Monteiro Silva, filha de Josias Monteiro Leal e Anésia Borges Monteiro, eram naturais de Araguatins.
Começou a trabalhar muito jovem na Prefeitura Municipal como tesoureira, secretária do prefeito e, mais tarde, assumiu várias vezes a Prefeitura Municipal, na ausência do titular, conforme documento, portarias e memorandos.
Foi uma mulher dinâmica, ativa e além do seu tempo, pois naquela época não era comum as mulheres trabalharem fora do lar. A maioria delas somente cuidava dos filhos, casa e dos afazeres domésticos.
Em Araguatins tinha uma senhora morena, nova, com um filho pequeno, carregado “escanchado” ou no quadril, pelas ruas da cidade. Ela tinha problemas mentais e por isso era chamada de Domingas Doida. Quando ela passava eu me escondia com medo. Só saía do esconderijo quando já tinha certeza que ela já estava longe.
Tomávamos banho no Gorgulho, lugar com bastante pedrinhas no leito do rio, na Rampa, porto com degrau, ou no Brejo, um pequeno córrego, próximo ao cemitério.
Ficou, também ficou marcado em minha vida os passeios na Praia da Ponta, defronte a Cidade, e a de São Raimundo, abaixo do encontro dos rios Araguaia e Tocantins.
As fazendas que mais gostava eram a Magnífica, do tio Pedro, e a Mirindiba, do vovô Dãozinho.
Da casa do vovô Dãozinho, me lembro do quintal enorme, contendo um pé de carambolas e um gigante e florido flamboyant.
As brincadeiras de boneca e casinha eram ali na sombra da árvore.
Na varanda da casa dele tinha um jogo de cadeiras de vime (palhinhas), que eu gostava de sentar e cruzar as pernas, me sentindo importante e elegante.
Também gostava de subir e descer uma escada velha, enferrujada e abandonada no fundo do quintal do meu avô.
Imaginava estar embarcando para uma grande viagem.
Dentre as brincadeiras de infância, recordo de fazer comidinhas, arrumar casinha, jogar bola, pular corda e jogar “liso”, composta de pedrinhas pequenas e redondinhas.
Era para jogar e juntar o máximo de pedrinhas na mão, o máximo possível. O local do jogo tinha que ser plano e liso para não arranhar as mãos na hora do “raspa” ou pegar todas com a mesma mão.
Uma passagem que marcou muito é que eu era moreninha, cabelo comprido, bem lisinho, preto e usava “pastinha” ou franja, no linguajar moderno.
Meu tio Pedro dizia que eu era índia, que ele me pegou na aldeia e me deu para os meus pais. Ele dizia serem meus adotivos.
Contava-me que a minha mãe índia tinha morrido e que os outros índios iam me enterrar junto com ela (que era costume, segundo ele, para me convencer).
Dizia que ele chegando na aldeia e vendo aquela cena, ficou com pena e pediu aos índios para ficar comigo e que depois me levou para os meus pais me criarem.
Eu não acreditava em tudo. Mas, quando índios chegavam e ficavam na praça ou andando de lá pra cá, eu me escondia com medo de algum deles me reconhecer com índia e me levar com eles.
Até debaixo da cama e por trás das portas eu ficava escondida até minha mãe afirmar que eles já tinham ido embora. Acho que era brincadeira de mau gosto com as crianças.
Hoje acho graça, mas a visão de criança isso é trágico.
Eu pensava: Mesmo que eu não seja índia de verdade, mas eu pareço tanto, que os índios podem pensar que eu sou uma deles, e querer me levar à força.
Outra coisa que me vem à memória são os primeiros banhos na chuva. No telhado da cozinha de casa, que saía para o quintal, tinha uma bica. Ali eu e meus irmãos experimentamos a gostosa sensação da chuva em nossas cabeças.
Minha mãe costumava fazer barquinhos de papel e nós colocávamos na enxurrada e ficávamos olhando até ele sumir de vista.
No quintal da tia Benvinda havia um pé de cabaça. A gente colocava uma escada e eu e os primos subíamos como se fosse entrar num avião. Depois que cada um estava em um dos galhos da árvore, firmes e sentados, vinha o último que subia com uma jarra de água e copos de alumínio ou esmalte para servir os “passageiros” daquele vôo. A gente fingia que decolava, voava e depois o avião aterrissava e todos desciam da “aeronave”.
À noite, meu pai acendia um lampião que na época as pessoas chamavam de petromax, que ficava pendurado no meio da sala- de – estar, onde ficávamos até dormir. Nos outros cômodos havia uma lamparina em cada um. A ideia era iluminar toda a casa. E ninguém viesse cair nos degraus existentes entre a varanda e a cozinha.
Na maioria das casas tinha somente a cama de casal. O restante da família dormiam em redes, inclusive meus irmãos e eu.
Cada um de nós possuía mosquiteiro, que chamamos de cortinado.
Jamais ficávamos sem essa proteção em nossas redes e quando uma carapanã, conhecida por muriçoca, ousava picar um de nós, meu pai passava horas lamentando não ter encontrado e dado cabo daquela maldita que nos ofendeu.
O comércio da cidade era fraco e muitas coisas vinham de fora.
Remédios eram comprados em Marabá (PA), pois a pequena farmácia tinha somente medicamentos básicos.
Voltando de Goiânia, meu pai sempre levava brinquedos, maçãs, sonho de valsa, quitandas de padaria e manteiga industrializada.
Um grande avanço para a cidade aconteceu com o fornecimento de energia elétrica, através de um pequeno motor. Somente de 19 às 22 horas. Mas, atendia as casas e principais ruas da cidade.
Pouco antes de faltar a energia, o controlador dava uma falha no sistema, para dar sinal que já ia desligar o motor. Eram dois sinais antes de faltar.
As pessoas diziam: a luz “piscou” uma vez, duas vezes. E quando a luz “piscava”, todos procuravam ir pra casa, pois logo a energia acabava de vez naquela noite e tudo ficava no escuro.
Na minha infância, voltamos muitas vezes a Araguatins, para passar férias com nossos primos e amigos e ficávamos na casa da tia Benvinda, irmã da mamãe.
A viagem de ida de Goiânia demorava três dias. O trajeto era feito de ônibus pela Rodovia Belém-Brasília. Sem asfalto, muita poeira e o pernoite em pensões nada confortáveis. Mas, felizes de voltar à terra natal tão querida.
Voltei, também, várias vezes durante a adolescência, o que já era mais divertido, pois além dos passeios às fazendas, praias, banhos no rio e igarapés, estávamos despertando para as paixões e os primeiros namorados.
As festas que passavam das 22 horas eram iluminadas com o antigo petromax e lamparinas, e as radiolas, então os primeiro toca – discos à pilha, para animar até a madrugada.
Saudades da terrinha, das divertidas e bem aproveitadas férias.
Em minhas lembranças também ficaram as esperadas e românticas serenatas, onde das janelas ouvíamos músicas apaixonadas, dentre elas “Detalhes” de Roberto Carlos, o que marcou época para muitos de nós.
Tive algumas paixões de férias que não vingaram além do verão, e outras foram mantidas através da troca de cartas e a emoção das visitas do correio pelo menos uma vez ao mês, trazendo notícias e alimentando a chama ardente da paixão (ou amor?).
Também chorei quando acabou. Às vezes me pego pensando: como teria sido se estivéssemos juntos. Quando volto à terrinha ainda reconheço o banco da pracinha, que a gente chamava de nosso banco, onde aconteceu o aperto de mãos e os primeiros beijos.
Na casa de minha tia, onde passava férias, éramos quatro meninas. Era normal todas estarem no mesmo horário, com seus respectivos namorados. Então cada uma ficava num canto da sala, varanda ou jardim, namorando até altas horas.
Quando os rapazes iam embora a gente ainda ficava até madrugada, conversando e achando muita graça de tudo aquilo.
“Velhos tempos, belos dias”
Sempre volto a Araguatins, principalmente no mês de julho, época de alta temporada, aproveitando melhor as praias e o majestoso Araguaia.
Diferente de antigamente, hoje temos ótima infraestrutura nas praias, com barracas, bebidas, refeições, telefone público, barcos levando e trazendo pessoas, e outras atrações para os muitos turistas que ali se divertem.
Uma das programações de agora, é a reunião de família, na casa de um dos tios ou primos, onde cada um leva um suco, bolo ou quitandas da região. É um momento de encontro, conversas, histórias, muitas recordações e grandes risadas.
O progresso chegou à nossa terra e a tecnologia também, mas estamos resgatando nossa história e origens.
Contribuindo para isso, faremos nosso 1º Encontro Festivo dos Araguatinenses, dia 21 de abril, na AABB, em Goiânia.
(Maria Bernadette Monteiro Mendonça Castro, funcionária pública municipal e ex-bancária do Basa)