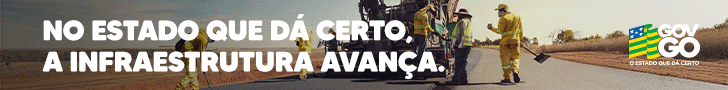O dinamismo da cultura e a teoria antropológica
Redação DM
Publicado em 9 de março de 2017 às 01:54 | Atualizado há 8 meses
A antropologia cultural e a cultura denotam seu funcionamento e mudança de acordo com as culturas as quais estão em constante movimento. O que determina este fenômeno é o fato de que elas têm vida, assim como a população que nasce, cresce e morre engendrada por valores culturais que abraçam conceitos ligados ao amor, fidelidade e traição, os quais estruturam como valores societários de uma coletividade que produz alimentos, arte, artesanato e denota uma linguagem, segundo MELLO: “Cultura é um modo coletivo de provar a sobrevivência de todos e de cada um dos membros da população” (7ª ed., p. 80, 2000)
Em analogia ao corpo humano e a fases da vida como infância e adolescência, maturidade depois a velhice, a cultura interliga conceitos onde um segundo sempre sucede ao primeiro, numa transformação que projeta desenvolvimento, numa arena dinâmica estruturada na realidade macro como micro que significa e abstrai, distingue sociedade de cultura, agregado e “agregados culturais [isto é, valores em fase de institucionalização ou em fase de desinstitucionalização]” (id., p. 82), enfim, a cultura institucionalizada e a endoculturação que envolvem temas tais como Cultura e Adaptação; Mudança Endógena; Invenção; Mudança Exótica; Difusão; Acidentes Históricos.
O processo cultural traz aspectos sincrônicos relatos à distinção Cultura e Sociedade, que abarca teorias da Sociologia e Antropologia – uma vez que as populações são dirigidas por uma normatividade ou sanções sociais – na forma de leis impostas aos membros da coletividade, o que dá um caráter institucional, padronizado fixo da cultura, exposto nos usos, costumes e leis que perfilam uma simbologia. São os padrões de comportamento os quais atendem à necessidade de compreensão das mensagens, fixadas na população pelas vias orais, visuais, em gestos e signos da comunicação capazes de proporcionar a troca de mensagens, a ideia de ordem estabelecida ‘ou em vigor’ estabelecida na linguagem econômica, política, religiosa e estética.
Há um padrão institucionalizado de comportamento – passado de geração a geração – reconhecidamente normativo e continuísta, o que provoca a ideia de que “a estabilidade social decorra não apenas da cultura, mas também outras forças biopsicológicas dos indivíduos em sociedade, em interação social” (id., p. 85). A lógica de sentimentos (PARETO, s/d) fala do papel relevante da manutenção da ordem sociocultural, lógica estruturalista a qual, por outro lado, pode provocar uma ‘inércia social’ ao lidar com ansiedades do seio da sociedade ativa, tentando impor ‘um estado de coisas’. Este fenômeno verticaliza a natureza, a qual se move a partir dos movimentos regulares ou regularidades como sistemas planetários atados às estações climáticas, produção agrícola, formas minerais e outros (MELLO).
Na relação com o ambiente, esporadicamente, “a cultura é incitada à transformação” (id.), fenômeno que engendra o processo principal, responsável pela ordem e estabilidade cultural, ao qual atrevo a chamar, manutenção do “status quo” instalado, e, em espiral, do centro para a periferia da sociedade (des) organizada. O processo de enculturação foi usado por Herskovits para designar ajustamento aos padrões de cultura de uma sociedade e inicia no nascimento transmitido à criança por uma série de acontecimentos que vão além da vertente biológica, ou seja, fenômenos culturais, dentre os quais, a endoculturação, que trespassa os comportamentos padronizados que a criança é obrigada a internalizar.
Não se deve confundir aculturação, a qual se processa em nível de grupo, com endoculturação – que acontecem com o indivíduo. Estes são hábitos e costumes, internalizados do nascimento à maturidade, quando “ocorre uma anulação da conduta biológica num ponto hipotético de maturidade” (Titiev, p. 86), fenômenos especiais e típicos da vida humana conformados pela cultura. A criança atua como uma esponja ao absorver a experiência cultural, ou seja, apreende hábitos como comer, dormir, falar, pensar. Pelo processo de endoculturação o indivíduo modela a personalidade, pois, de acordo com alguns pesquisadores, a criança nasce sem personalidade formada. A endoculturação perdura por toda a vida e objetiva moldar o indivíduo, ajustá-lo à sociedade por meio do aprendizado do idioma, comportamentos aceitos pela comunidade, enfim, um determinismo cultural que leva à cultura interiorizada pelo subjetivo.
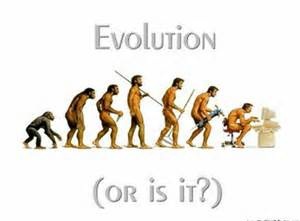
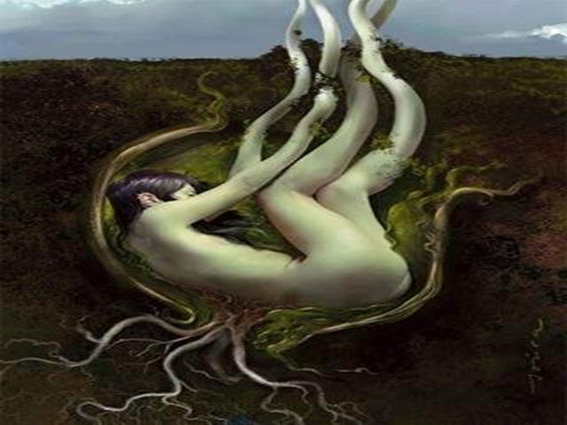
O homem, uma vez endoculturado, não deixa de ser agente de sua cultura, a qual modela, além de seu comportamento biológico, o psicológico, o que leva a atestar que cultura penetra toda a vida do homem em sociedade, numa dialética dividida em três fases, retratadas entre o nascimento à juventude; da maturidade e o alcance da velhice, esta última, imobilizada e impermeável no próprio fenômeno da existência cristalizada fechada a novas situações. A cultura é um conjunto de “experiências humanas transmitidas por homens através dos séculos e por meio dos homens e das coisas e dos artefatos” (idem, p. 89). Ou seja, a força da cultura está no interrelacionamento do homem com sua ascendência. À atitude dos grupos humanos em supervalorizar seus próprios valores e cultura, que alcança até mesmo a intenção de ridicularizar outras culturas (alienígenas) dá-se o nome ou conceito de etnocentrismo, que denota orgulho e superioridade, unilateralidade. Esta percepção equivocada de que aquilo que é local não pode ser melhor que o que já está institucionalizado pelo etnocentrismo estrangeiro como o uísque, a saia ou saoite escocês; o vinho italiano; o champanhe francês.
Até pouco tempo esta vertente cultural caracterizavam “os povos do Terceiro Mundo que aspiram a alcançar o estágio de desenvolvimento (desenvolvimento como sinônimo de industrialização – conceito obtuso, mas largamente aceito), que passam aceitar a tecnologia estrangeira e, inconscientemente, também outros modos e padrões de comportamento” (idem, p. 90). Os meios de comunicação modernos não permitem mais que países se isolem, e, as rápidas mudanças e reformulações globais afetam diferentes localidades na velocidade do tempo em que se dão as transformações de mercado, comportamentais, culturais. Por exemplo, a industrialização levou 200 anos para acontecer, fruto da invenção, acabou transplantada, no Brasil, em meio século, estruturada em um nacionalismo que também caracteriza o etnocentrismo. O brasileiro denuncia o etnocentrismo da Nação na endoculturação da mulata, do café, da megalomania, lembrando que “um grupo humano que não cultiva o etnocentrismo possivelmente não possui cultura própria” (idem, p. 91).
A grande maioria dos povos primitivos já teve contato com os modernos meios de comunicação, fato que provoca o estudo da aculturação e de contatos culturais. A desorganização sociocultural dá-se no contato do índio com o branco, por exemplo, e, seu extermínio. A cultura e o povo estão unidos, e, embora distintos, são unidos. Através deste fenômeno caracterizam-se o evolucionismo e difusionismo, a mudança cultural ou mudança, social. A esta transformação da estrutura social, estão fenômenos ligados à produção, estratificação social, instituições e valores sociais cujo escopo é manter o sistema formado por partes, processos que na obra Introdução à Antropologia Social, definidos, de acordo com (BEATTIE) enquanto “sistemas de equilíbrio, cujas instituições sociais podem ser consideradas como artifícios automantenedores do status quo” (p. 287).
Na coletividade desigual e contraditória a harmonia e equilíbrio, a cultura e a sociedade, o conflito e a mudança não estão isolados, nem interagem entre si com maior ou menor intensidade enquanto paradigma. Sobre este problema de mudanças e orientações da sociedade em sua historicidade, Marx afirma: a- Os conflitos sociais, na medida em que são conflitos de interesses, opõem necessariamente dois grupos; b- O conflito é o motor principal da história; c- Urge a investigação dos fatores estruturais da mudança social, a distinção de duas classes movidas por forças exógenas engendradas pelo próprio funcionamento e na sua estrutura; d- O sistema social cria as forças que o transformam. Para contrapor o determinismo econômico ao determinismo cultural, é preciso contrapor Marx e Weber, este último, visa mostrar como valores culturais podem determinar certo tipo de economia.
Atesta Weber que: a- uma ética protestante deu origem ao capitalismo; discute a predestinação; b- a graça de Deus e seus desígnios são impossíveis de serem pedidos, determinando a solidão interna do indivíduo; c- o mundo existe para a glorificação de Deus, e o cristão eleito cumpre mandamentos deste; d- o amor ao próximo deve se estabelecer na vontade Divina, não em benefício da carne, e ainda deve organizar racionalmente o ambiente social; e- o eleito não difere do condenado. Marx e Weber descortinam fatores determinantes da mudança social, dividem a realidade social humana em elementos econômicos e culturais, apregoam uma mudança que exige a explicação da causalidade interacional, segundo MELLO: “Seria o caso de estudar como se dá o fenômeno da institucionalização e desinstitucionalização que, de resto, são fenômenos corriqueiros da vida coletiva dos homens” (p. 96).
É mais fácil perceber o fenômeno das descobertas ou invenções na área da tecnologia que no campo da cultura. Segundo SPIER “a essência da invenção está na ideia nova” (As invenções e a Sociedade Humana, p. 267). A invenção deve ser vista e estudada como sequência natural do processo cultural, embora seja realizada por indivíduos, envolvidos por um cenário onde se desenrola a trama e o drama humano, afinal, onde o home põe os pés, deixa de existir, ali, a natureza pura, de acordo com a obra O Homem: uma introdução à Antropologia: “Podemos definir como descoberta todo acréscimo de conhecimento; como invenção, toda nova aplicação de conhecimento” (LINTON, P.312, 8ª ed.). Cada cultura é um todo harmônico, e, nela, o inventor necessita estar inteirado de um “certo clima” de aceitação para que a incorpore sua descoberta à Cultura, a qual se propõe atender às necessidades biológicas do homem, o qual usa das ferramentas “enquanto extensão de seu corpo” (SPIER, p. 267).
A cultura fornece o material bruto do qual o indivíduo constrói sua vida, ela “só não proporciona ao inventor os instrumentos que ele tem de usar para inventar, mas também controla, em grande extensão, a direção de seu interesse” (MELLO, p. 101). A esta interpenetração da cultura dá-se o nome de difusão, ou fenômeno antropológico e fato histórico, de acordo com (Ralph Linton, p. 330): “Não existe hoje, provavelmente, cultura alguma que deva mais de dez por cento de seus elementos totais a invenções feitas pelos membros de sua própria sociedade” (in MELLO, p. 102, 7ª ed., 2000). O comportamento, num pequeno espaço de tempo, ao alcance o café, do jornal, enfim, de necessidades diárias estabelece o processo de difusão cultural universal, o qual consiste na propagação de elementos trocados ou permutados entre diferentes culturas em seus mais diversificados elementos culturais.
Nos tempos atuais uma invenção não permanece estanque à sua sociedade de origem. Objeto de comércio enquanto mercadoria é alardeada à sociedade sob a forma de produto patenteado, “know-how” que dá lucro na forma de “royalties”, em mais uma assertiva de que as fronteiras das culturas nacionais desapareceram, há algum espaço de tempo e esparradas no espaço geográfico. Esse fenômeno dá origem à descaracterização das culturas, afinal a difusão cultural não é um processo mecânico tampouco homogêneo. “Em razão do grande progresso dos meios de comunicação, o princípio da contiguidade perde muito de significação” (idem, p. 105). A direção da difusão cultural é incerta, ao passo que a difusão material deste fenômeno tem lugar certo. Este conceito abrange a mesma invenção independente, desde que, paralela, e, em lugares diferentes. Essa ocorrência cultural é muito comum, principalmente “nos dias atuais quando a difusão assume proporções enormes e não só concorre para a homogeneização das culturas, mas funciona como um estimulante à pesquisa inventiva” (idem, p. 106). Portanto, mais importante do que os caminhos de difusão cultural é a ciência da existência desta difusão.
Já a partir de 1880, para Herskovits, o termo aculturação define empréstimos culturais, modificado para o termo difusão, apresentado por Franz Boas, em 1899. Em ambos os casos os dois conceitos significam o mesmo e abrangem os estudos ligados à disseminação das culturas, aculturação e endoculturação. O fenômeno da absorção destes elementos é muito mais um processo de assimilação e reformulação, e, de acordo com (MELLO): “Não é o fato de conhecer o costume haraquiri japonês, suicídio ritualístico, que fará com que nós brasileiros o adotemos” (p. 108). A cultura brasileira, embora absorva muitos elementos dos ameríndios e africanos, não se identifica com nenhuma delas, embora haja predominância dos elementos portugueses. Hoje, valores negros foram, em parte, assimilados pela população branca ao passo que valores brancos foram impostos aos negros também incorporados à sociedade nacional.
Ao discorrer sobre o fenômeno da “transfiguração étnica”, Darcy Ribeiro desvela a aculturação enquanto fenômeno, processo lento e irreversível de absorção das populações indígenas pela sociedade local brasileira. Isso, à revelia dos poderes públicos, e, em face do fascínio que a coletividade que explora a vida nas matas desperta na população branca, urbana, a qual se acumula e sobrevive nas cidades. Este processo de aculturação representa dificuldade para detectar centros de difusão e seus caminhos. Esses conceitos foram utilizados para classificar culturas, seus traços culturais mais difundidos e um espaço geográfico maior que corresponde aos traços mais antigos. O termo idade-área é relativo, também chamado subárea de cultura, salientando a influência inegável do ambiente geográfico na conformação cultural. Se a verdade conta da cultura que satisfaz as necessidades biológicas do homem, nesse afã, surge um mundo de necessidades derivadas em número maior que segundo a obra Problemas Brasileiros de Antropologia: “Essa ação do homem, porém, longe de ser simplesmente ‘natural’ e que não se deixa explicar de todo pelo naturalismo geográfico nem pela raça” (FREIRE, p. 22).
Acidente histórico, ou não a cultura apresenta duas maneiras de variação ou mudança. Lenta e ordenada, marcada pelo equilíbrio, e, por outro lado, mudanças bruscas e violentas. Um verdadeiro estado de ebulição em que as estruturas da cultura são abaladas, e no qual podem ocorrer a aculturação, difusão ou invenção de acordo com a sua intensidade. Apesar de nominada mudança brusca, ou, acidente histórico, “o termo acidente pode sugerir algo arbitrário e de consequências nefastas, lembrando que não é um acontecimento destituído de causação, antes deve ser visto como uma pluralidade de causas” (HERSKOVITS, P. 416). Por outro lado o acidente histórico não tem direção nem significa que deva ser nefasto ou benéfico à cultura, ainda que as culturas ameríndias, com certeza, tenham sido vítimas de um grande acidente histórico, o descobrimento do Brasil pelos portugueses. Inúmeros são os fatores que direcionam os rumos da cultura, por isso, a metodologia define melhor seu estudo inserido de visão econômica, social, ecológica, racial e cultural.
Ambiente geográfico e fenômeno cultural fazem parte da teoria da cientificidade que busca o entendimento antropológico da coletividade que teve, até o presente momento, enquanto destino, se proteger da natureza e, ao mesmo tempo, retirar dela a subsistência. O homem descobre a natureza adversa, invulnerável e generosa, faz suas revoluções, políticas, cria indústrias, comercializa, numa dialética embebida em sonhos e realidade, esta última, a tirania do homem para consigo mesmo. Tema atual, e, resultado desse processo de cultura, endoculturação, aculturação, a poluição ambiental, a ecologia enquanto ciência que estuda seres vivos, suas casas, seus habitats. Ao descortinar do Globo terrestre, uma diferença latente entre povos, ao atribuí-la aos fatores culturais, minimiza-se por certo as diferenças geoclimáticas. O homem é um só, é claro, que influenciado pelas condições geográfico-culturais que nelas se insere. Portanto pode-se afirmar que existe o determinismo geográfico no âmbito da cultura, e que, ao mesmo tempo, dá-se o contrário, o determinismo da cultura sobre os ambientes físico-geográficos.
De acordo com a obra “Race, language and culture”, os geógrafos tentam mostrar que todas as formas da cultura humana derivam do ambiente geográfico (BOAS, p. 255-56). A natureza e a localização da Austrália continuam as mesmas durante a história humana, contudo abrigam culturas bem diversas. É do solo que os povos tiram seu sustento: “Com efeito, as condições geográficas influenciam o idioma, a religião, a política, a produção artística e toda a cultura de seus habitantes” (MELLO, p. 118). A cultura é, portanto, seletiva. O ambiente limita ou favorece o seu desenvolvimento: “O domínio do homem sobre as coisas da natureza o torna cada vez mais dependente” (MELLO, p. 120), o homem moderno, acostumado à TV, automóvel, telefone, energia elétrica, comodidades e tecnologia, o que enquanto dependência cultural cria também uma dependência com o meio ambiente e suas matérias-primas, tais como o ambiente social, a inciativa individual, o fator histórico, as relações entre os povos. O ambiente é condição “sine qua non” para que haja cultura. O significado de ambiente para os povos é dado pela própria cultura, esta que, há muito, transfigurou o ambiente geográfico em ambiente cultural.
Este é um terreno interseccional entre a antropologia cultural e a psicologia: “As bases da personalidade delimitada por três elementos, o físico, o temperamento e a inteligência” (ALLPORT, p. 48), no livro “Personalidade”. Estes elementos constituem a matéria-prima da personalidade, uma vez que é repassada pela hereditariedade. O comportamento humano é subjetivo, individual padronizado, organizado e define a personalidade. Esta é a soma total de efeito provocado por um indivíduo na sociedade, ou seja: a personalidade é o que os outros pensam do indivíduo. Segundo, a personalidade é um conjunto de processos e estados psicológicos, uma organização de valores consistentes. De acordo com alguns pesquisadores, a personalidade não existe, ela é o resultado de efeitos extremos e em determinado momento. De acordo com LINTON: “O termo personalidade tem sido empregado para designar o conjunto das qualidades mentais do indivíduo, isto é, a soma total de suas faculdades racionais, percepções, ideias, hábitos e reações emocionais condicionadas” (“O Homem: uma introdução à Antropologia”, p. 460). Ora indivíduo, ora unidade social, todo indivíduo desempenha duplo papel. A exequibilidade do grupo social está na razão direta da “despersonalização dos seus membros” (MELLO, p. 123). O convívio social depende da uniformização ou padronização das pessoas. A esse fenômeno dá-se o nome de endoculturação, metamorfose a qual o homem trespassa, desde seu nascimento até sua morte.
Para a Sociologia o processo de socialização é um sistema de despersonalização, onde a liberdade e a individualidade são suplantadas pelo controle e generalidade dos papéis sociais. As instituições são criações do homem, como tal podem caducar, exaurir, desinstitucionalizar, enquanto fenômeno e processo coletivo. A personalidade é produto da cultura, de acordo com BRUNNER: “O surgimento do homem moderno, a partir de animais inferiores, não ocorreu instantaneamente, como por ato divino ou legislativo, mas foi um processo vagaroso, gradual e possivelmente doloroso” (“O Approach Psicológico na Antropologia”, p. 214). O homem ou indivíduo é esmagado pelo jogo da cultura a qual propicia padrões universais de comportamento, apropriados aos grupos, seitas e estrato sociais diversos dentro da sociedade que determina padrões de peso ou prazer, realidade posta na qual cabe indagar se as pessoas delinquem porque são marginais e não, ao contrário, se marginalizam porque delinquem, pois é também a cultura que determina a maneira de ser do homem ou mulher, patrão ou empregado, rico ou pobre, inserida aí a questão da luta de classes, crise existencial e realidade material que denuncia exclusão ou pertencimento a dois mundos, o de Deus e também o dos homens, ou seja, “o segredo do progresso das invenções e da tecnologia está, precisamente, na capacidade de transmissão da cultura, de geração a geração” (MELLO, p. 126, 2000). A sensação do indivíduo frente à cultura é, portanto, de total dependência.
E o pulso, ainda pulsa!
REFERÊNCIA: MELLO, Luís Gonzaga de. Antropologia Cultural: iniciação, teoria, temas. Petrópolis-RJ. Vozes, 1987. p. 79-126)
(Antônio Lopes, escritor; filósofo; mestre em Serviço Social/doutorando em Ciências da Religião/PUC-Goiás; aluno-ouvinte mestrado em Direitos Humanos/UFG)