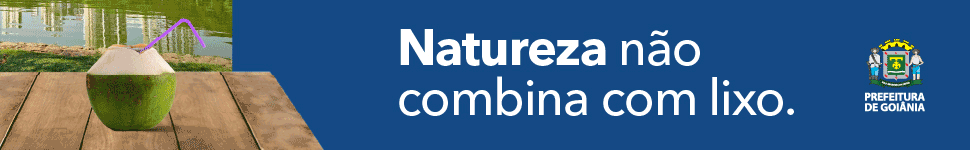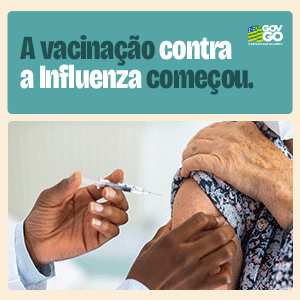O gerundismo, o anacoluto e outros vícios que andam usando por aí
Diário da Manhã
Publicado em 10 de novembro de 2015 às 22:04 | Atualizado há 9 anosEm muito má hora sacaram o latim das escolas. A cada dia, a fragilidade do conhecimento do vernáculo vem gritando pela volta do latim, como se, de repente, houvessem bombardeado os alicerces de língua. Achamos injustificável, inoportuna, essa proscrição. Não por ser fácil ou gostoso de se estudar, mas por nos colocar nas mãos a razão de ser da “Flor do Lácio”, além de desenvolver o raciocínio na dança das declinações.
Até os anos sessenta, o latim começava na antiga primeira série ginasial (que hoje é a sétima), com os rudimentos da língua; passava pela segunda, com a História de Roma, de Eutrópio; pela terceira, com as famosas fábulas de Fedro, encerrando-se na quarta, com o “De Bello Galico” de Júlio César. Quando se chegava ao colegial, que hoje apelidam de segundo grau, já se tinha sólida base do português, de tanto dissecar o nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo e ablativo, facilitando a incursão nos meandrosos terrenos da Gramática Histórica, paralelamente ao estudo de Virgílio, com sua “Eneida”, as “Geórgicas” e as “Bucólicas” e “As Catilinárias”, de Cícero.
Sempre que me vem à mente o latim, que estudei bons pares de anos, lembro-me do saudoso arraiano monsenhor João Magalhães Cavalcante, profundo conhecedor do “sermo urbanus”, não só pelo seu ofício de rezar missa (na época, em latim), mas também pelo espírito perfeccionista de que era detentor, um artista da língua, aparando as arestas, adocicando as curvas e incrustando em seus escritos pepitas de raríssima sabedoria e gosto, cinzelando um monumento literário que nos extasiava, apequenando a mais perfeita das composições que fazíamos.
A muque, se preciso, o velho mestre obrigava-nos a aprender, desde o “hic-haec-hoc” até raízes de verbos, que para nós soavam como ex¬crescência linguística, sem se falar numa universalidade de conhecimentos da literatura mundial, pois no ginásio conhecemos Kant, Erasmo de Roterdam, Dante, Petrarca, Shelley, Paul Claudel, Paul Valéry e todos os expoentes da literatura mundial. Ali naquele interiorzão dianopolino, que era ainda inóspito, tivemos contato com as obras de Torquato Tasso, Ariosto, Boccaccio, Maquiavel, e soubemos o que eram Mahabharata e Ramaiana e quem havia sido Homero e Omar Khayan.
Em 1968, em plena Revolução, sob o governo Costa e Silva, o Brasil celebrou os famosos acordos MEC/USAID (United States Agency for International Development), com o objetivo de reformar o ensino brasileiro de acordo com padrões impostos pelos Estados Unidos. Para a implantação do programa o acordo impunha ao Brasil a contratação de assessoramento norte-americano e a obrigatoriedade do ensino da língua inglesa desde a primeira série do primeiro grau. Os técnicos oriundos dos Estados Unidos criaram a reforma da educação pública que atingiu todos os níveis de ensino. E o inglês passou a ter o maior peso nas provas de vestibular, maior até que o nosso vernáculo.
A maior reforma ocorreu na renomeação dos cursos. Os antigos cursos Primário (cinco anos) e Ginasial (quatro anos) foram fundidos e renomeados como Primeiro Grau, com oito anos de duração, eliminando o antigo “Curso de Admissão ao Ginásio”, verdadeiro vestibular para se ingressar no curso Ginasial. Já o antigo Curso Científico foi fundido com o Clássico e passou a ser denominado Segundo Grau, com três anos de duração. O Curso Universitário passou a ser denominado Terceiro Grau. Essa reforma eliminou um ano de estudos, fazendo com que o Brasil tivesse apenas 11 níveis até chegar ao fim do segundo grau enquanto países europeus e o Canadá possuem um mínimo de 12 níveis. Foi o maior retrocesso na nossa educação e talvez o maior crime cometido pela Revolução contra nosso ensino.
Na esteira dessa reforma é que sacaram o latim da grade curricular, o que só aconteceu com o português no Brasil, pois as demais línguas neolatinas (o espanhol, o italiano, o francês e o romeno) continuaram ensinando a língua-mãe. E na Europa o latim permanece sendo ensinado, inclusive na Alemanha, apesar de não ser o alemão uma língua românica, pois, como o latim, o alemão possui declinações.
Tenho observado, com muito desconsolo, que muitas pessoas falam e escrevem sem a preocupação de seguir as mínimas regras do nosso idioma.
Estes dias, dentre muitas besteiras que a presidente da República fala em seus discursos de cada dia: “O meu governo, ele não é corrupto”; nas igrejas, os doutrinadores também dizem, com frequência: “Jesus Cristo, ele morreu na cruz para nos salvar”, e assim por diante, criando um antipático anacoluto, que é uma figura de linguagem, também chamada de “frase quebrada”, e ocorre toda vez que a estrutura sintática de uma oração é interrompida e um termo ou expressão que parecia ser essencial à sentença acaba ficando solto.
Observamos, também, principalmente na linguagem falada e com frequência nos atendimentos de “telemarketing”, o uso abusivo do gerúndio, ou gerundismo, que ocorre, normalmente, na tentativa de expressar ações de execução imediata no tempo futuro com emprego do verbo auxiliar e o gerúndio, tais como “vou estar telefonando”, “vamos estar publicando”, esquecendo-se da caracterização durativa acarretada pelo uso do gerúndio.
O emprego correto do gerúndio em expressões de ações futuras ocorre quando realmente se pretende exprimir uma ação durativa, um processo que terá uma duração ou estará em curso, tal qual “estaremos estudando nesta tarde”, ou simultaneidade, como em “eu estarei viajando enquanto você termina este trabalho”, perfeitamente caracterizadas pelo uso do gerúndio.
A construção é particular do português falado no Brasil, uma vez que em Portugal costuma-se substituir o gerúndio pela construção “a + infinitivo” (“estou a trabalhar” por “estou trabalhando”).
Também se ouve e se lê, com muita frequência, o uso indistinto do vocábulo “melhor”, comparativo de superioridade de “bom”. Muita gente escreve despreocupadamente: “Isto vai ser melhor explicado a seguir.”
Ora, só se usa “melhor” numa oração quando quer dizer “mais bom, mais boa” (“A comida deste restaurante é melhor do que a do outro”), mas quando quer dizer “mais bem”, dói nos ouvidos ouvir “melhor”. Deve-se dizer “mais bem explicado” (e não “melhor explicado”), “mais bem feito” (e não “melhor feito”).
Da mesma forma, embora não usual, pode-se perfeitamente usar, por exemplo, “mais grande”, no lugar de “maior”, “mais pequeno”, em vez de “menor”, quando se comparam qualidades: “Antonhão era mais grande que inteligente”; “a casa dele era mais pequena do que grande”, e assim por diante.
O gostoso do nosso vernáculo são essas peculiaridades. E muitos estão “a dever” uma espiada na gramática, para usar uma expressão típica e correta do patrício lusitano.
(Liberato Póvoa, desembargador aposentado do TJ-TO, membro-fundador da Academia Tocantinense de Letras, escritor, jurista, historiador e advogado – [email protected])