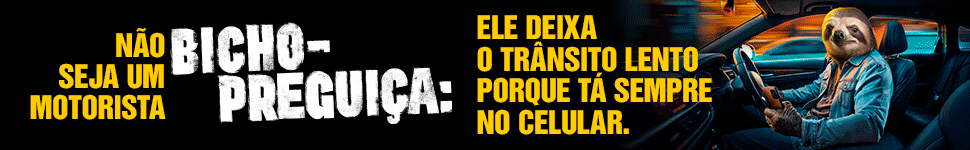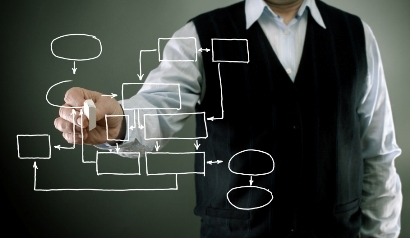Rosinha da Rua Baiana, que queria ser sem ser
Redação DM
Publicado em 19 de fevereiro de 2018 às 23:53 | Atualizado há 7 anosExistem pessoas que costumam botar banca para se sentirem importantes, e no Duro (hoje, Dianópolis-TO) não era diferente. Até gente da sociedade, que naturalmente já vinha com um vernizinho de aristocracia, padecia de uma carrada de precisão. Mas morria tesa, mas não perdia a banca.
Quando as freiras deram com os costados lá para fundar o Ginásio João d´Abreu, importadas diretamente da Espanha do Generalíssimo Franco, na cidade não havia nenhum arremedo de conforto, e até a água era armazenada em potes de barro, que nem filtro havia.
E um dia, a madre Belém, superiora das beatas, quis beber água filtrada, por medida de precaução, e não havia filtro disponível. Correram em tudo quanto era lugar atrás de um filtro, e não acharam na “Loja Póvoa”, na “Casa Ponto Certo”, de Nélio, até no “Bazar Cearense”, e nada; zanzaram em tudo quanto era loja até, venda, e não acharam o filtro.
E o sempre solícito coronel Afonso Carvalho, que se arvorava de ter de um tudo (mas não tinha filtro, nem em casa nem na loja), ao saber da necessidade das madres Belém, Aránzazu, Consolata, Glória e outras, foi ter com as freiras caçando uma solução.
O coronel era daquelas pessoas que fazia a festa e soltava os foguetes, alardeando que era rico, que tudo o que tinha estava “compro e pago”, que sua loja rivalizava com a “Casa Póvoa”, que seu gado raçado da Beira d´Água causava inveja, que tinha sido um dos primeiros a adquirir um veículo em Barreiras (um jipe Willys azul, sem capota, que ele chamava de “meu carro”). E assim, foi ter com as beatas oferecer os préstimos, e quando soube que o caso era um filtro, garantiu a elas que o caso estava praticamente solucionado, pois seus filhos Djalma, Diógenes, Neta e todo o resto da récua estudavam com elas, sendo ponto de honra resolver o problema.
Que nada, meu senhor! Lá na rua ninguém tinha filtro; o povo armazenava água era nos potes de barro feitos por Joana-Pra-Que-Veio, pescada no potes pelas canecas de flandres fabricadas pelo flandeiro Henrique de Norata.
Coronel Afonso caqueou no comércio atrás do filtro, e sua cara começou a crescer de vergonha de voltar às freiras sem filtro, contando conversa de onça sem cachorro.
Mas lembrou-se de que lá no Duro só duas pessoas tinham filtro: Celina Valente e tia Diana de Coquelin. Correu em Celina, mas ela estava no Malheiro; topou com tia Diana e falou em comprar o filtro mode levar pras beatas. Tia Diana argumentou que aquele utensílio era de uso e que não ficava bem vender o filtro e ficar sem.
Afonso coçou a cabeça, caçando uma saída, e achou melhor contar a verdade: disse que prometera à madre Belém um filtro que ele tinha em casa, mas o filtro tinha se quebrado numa cachaçada de Diógenes mais Djalma e ele não sabia. E estava numa camisa de onze varas, e só tia Diana podia salvá-lo para não ficar com a cara grande, mas que na outra semana lhe devolveria um filtro ainda na caixa, pois ele encomendara a Sabino Dourado pra mandar a peça de Barreiras. E que coincidentemente Sabino era seu hóspede naquele dia.
Tia Diana, sempre contemporizadora, aquiesceu e “emprestou-lhe” um filtro “São João” ainda novo, cujas velas nem tinham sido trocadas, que na semana seguinte o filtro encomendado pelo coronel Afonso vinha pelo caminhão de Leonides, que estava indo justo levando Sabino de passageiro. E fez mil recomendações até ao motorista, Cândido, pai de “Coquinho”, pra não esquecer a preciosa encomenda, senão ele ia ficar com a cara grande com tia Diana.
Pegou o filtro, mandou dar uma asseada pra dizer que era novo, botou no sol pra secar, e foi todo afolote entregar no Ginásio, comprovando ser pessoa de bem e prestativa, não deixando de transparecer seu rompante de grandeza e importância.
Isto me fez lembrar um episódio que meu irmão Deodato me contou isturdia, em que uma pessoa mostra uma importância postiça, posando de ser “as cuecas de Getúlio” sem ter com quê.
Lá na Rua Baiana, no nosso Duro, morava Rosinha, mãe do Nego Marim e mulher de Alcides, que trabalhava no Crisa (vulgarmente conhecido por Consórcio). E o fato de seu marido ser gente conceituada no Consórcio conferia a Rosinha uma importância monstra pra ela, que passou a ser exibida demais, cheia de lero-lero, dizendo que Alcides era uma das grandorias lá no seu emprego, que isto, que aquilo. E o certo é que Rosinha era muito exibida, querendo posar de gentona importante perante a vizinhança.
Mas vão escutando.
A cidade, numa daquelas quadras de seca medonha que assolou o sertão, ficou um bando de tempo sem ter carne nos açougues. Lá um dia ou outro, alguém conseguia uma matula e açougava, mas não chegava pra quem queria. E assim mesmo, quando os quartos eram dependurados nos ganchos, os pedaços melhores já tinham os donos consinados, pois os ricos já encomendavam antes aos açougueiros, de forma que sobravam pra pobreza só rejeitos, rebotalhos e carne com osso, e olhe lá.
Pois naquela crise medonha de carne, a vizinhança estranhava quando, perto da hora do almoço, escutava Rosinha batendo bife (o costume lá no Duro era bater o bife na tábua para amolecer, pois os açougues não tinham nem facas de confiança, que dirá máquina de amolecer carne!).
E as vizinhas que moravam dejunto da casa dela ficavam griladas: “Onde é que Rosinha tá achando carne, gente?”
E todo dia, aprochegando a hora do almoço, olha Rosinha – taco, taco, taco! – batendo bife.
Indagaram nos açougues, e ninguém tinha matado gado havia dias, e o curral da matança vivia sem um pé-duro magro, que dirá gado de açougue.
No outro dia, sagradamente, olha Rosinha batendo bife, e uma das vizinhas resolveu decifrar o mistério: no dia seguinte, saiu cedinho de casa, foi em Geraldo Mota, Tintino, Alexandre Pixuri, Pedrinho Açougueiro, e nada de carne. Nem tinham aberto os açougues aquele dia, que gado de matalotagem estava vasqueiro.
Disposta a dar um fim ao mistério, rumou pra casa de Rosinha, cuja porta estava aberta (como era o costume do Duro) e foi bater na cozinha, onde Rosinha estava ao lado do fogão, batendo com uma faca na tábua de bater bife, que não tinha bife coisíssima nenhuma.
Era apenas Rosinha querendo mostrar-se importante, fazendo o barulho pra vizinhança pensar que estava comendo carne. No fogão só duas panelas: uma cozinhava arroz com pedaços de jerimum, e a outra, cozinhando feijão com caruncho.
(Liberato Póvoa, desembargador aposentado do TJ-TO, membro-fundador da Academia Tocantinense de Letras e da Academia Dianopolina de Letras, membro da Associação Goiana de Imprensa – AGI e da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas – Abracrim, escritor, jurista, historiador e advogado – liberatopo[email protected])